|
|
O que é o crime de genocídio? Qual o papel dos Estados nestas tragédias? Existe por parte da chamada “comunidade internacional” um dever de proteger as vítimas? |
|
Teresa Nogueira Pinto |
por Teresa Nogueira Pinto 
Mestre em Ciência Política e Relações Internacionais pelo IEP-UCP
 Começo por cumprimentar e agradecer a publicação deste livro ao Professor Eugénio Fonseca, Presidente da Cáritas portuguesa, e à Engenheira Catarina Martins, Diretora da Fundação AIS.
Começo por cumprimentar e agradecer a publicação deste livro ao Professor Eugénio Fonseca, Presidente da Cáritas portuguesa, e à Engenheira Catarina Martins, Diretora da Fundação AIS.
Agradeço também ao Professor Doutor João Carlos Espada, Diretor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, a casa de partida deste livro e o lugar onde tive o privilégio de me formar. E ao Engenheiro António Raposo, por ter confiado neste projeto desde o primeiro momento.
Um agradecimento muito especial é devido também ao Nuno Rogeiro, pela amizade e paciência em ler, prefaciar e apresentar este livro, e à Professora Raquel Vaz Pinto, a pessoa que me transmitiu este agora irreversível entusiasmo pela questão dos direitos humanos.
Começo por dizer que este livro foi pensado num caminho que vai do particular para o geral.
A investigação partiu, em primeiro lugar das histórias singulares daqueles que foram os protagonistas do genocídio no Ruanda: a elite no poder que planeou ao pormenor o extermínio dos Tutsis; os camponeses Hútu diretamente envolvidos nos massacres, as vítimas, os sobreviventes e as testemunhas.
Mas os testemunhos e relatos dos protagonistas transcendem o tempo e o espaço deste genocídio, e obrigam-nos a refletir sobre conceitos e a colocar algumas questões. O que é o crime de genocídio? Qual o papel dos Estados nestas tragédias? Existe por parte da chamada “comunidade internacional” um dever de proteger as vítimas? E existindo esse dever, será que há capacidade para intervir? Será possível criar mecanismos de justiça adequados para julgar este crime ou será que, como nota Hannah Arendt, se trata de um crime que “explode” com os limites da própria lei?
No Ruanda, entre Abril e Junho de 1994, cerca de 800.000 Tutsis e Hútus moderados foram brutalmente assassinados, numa “caça ao homem” diária, organizada por um grupo de extremistas no poder e executada por uma parte significativa da população ruandesa.
Esse é o ponto de partido deste livro.
A tentativa de perceber o caminho que conduziu a esta “solução final” revelou um enredo complexo de causas e consequências: factos históricos e mitos; histórias de ocupação e de domínio; considerações políticas, securitárias e económicas. Por outro lado, o genocídio dos Tutsis no Ruanda foi um genocídio popular, manual e de proximidade, e por isso mesmo marcado por uma violência e crueldade extremas. A “ordem para matar” parte de um centro de decisão político, mas muitas das vítimas acabariam por morrer às mãos de vizinhos e conhecidos. Por isso este episódio traz outra questão que é tão inevitável quanto atual: como explicar a adesão, sem grandes reservas, de tantos homens, a maioria sem qualquer antecedente criminal, a um projeto de extermínio?
Gostava de partilhar convosco aqui algumas ideias que me parecem fundamentais para perceber o que aconteceu na Primavera de 1994 no Ruanda.
E o primeiro mito que a análise dos factos parece contrariar é o de que o que se passou no Ruanda foi mais um episódio de explosão de velhos ódios tribais num continente de Estados fracos e fronteiras incertas. O genocídio não é um “mal africano”. Na realidade, a tentativa de destruir, no todo ou em parte, determinado grupo nacional, étnico, racial ou religioso está desde sempre presente na História, em várias latitudes, muitas vezes por ordem e iniciativa de Impérios ou Estados fortes.
E no Ruanda, o genocídio acontece não porque o Estado é fraco ou falhado mas precisamente porque o Estado é forte e omnipresente. E a decisão, pela elite Hútu no poder, de exterminar os Tutsis obedeceu a um processo longo e racional, resultando da ponderação de um conjunto de fatores políticos, económicos e de segurança.
E foi esse poder quase total do Estado, apoiado num sistema administrativo complexo, numa sofisticada propaganda e na força coerciva, que permitiu a reinvenção – ou inversão – dos conceitos de certo e errado, dos critérios de bem e de mal. Assim, em nome da obediência e lealdade ao poder político passava a ser não apenas necessário mas também justo que os “bons Hútus do Ruanda” eliminassem os seus vizinhos Tutsis. Era a banalização do mal e da morte violenta.
Mas no caminho que conduziu a esta “solução final” houve outros fatores determinantes.
A história do Ruanda, nos períodos pré-colonial e colonial, teve um papel fundamental não apenas na justificação do genocídio, mas também no processo de mobilização da população. Os factos e mitos da História, reproduzidos oralmente através das várias gerações, também explicam estes massacres. Se a diferença entre Hútus e Tutsis começa por ser sobretudo ocupacional – uns são agricultores, como Caim, e outros pastores, como Abel – essa diferença acaba por assumir uma relevância política e social, já que, durante o período da colonização belga os responsáveis pela administração foram sempre cooptados entre a minoria Tutsi.
Por isso, para a maioria hútu, o processo de independência, mais do que a libertação de uma potência estrangeira ou do que a criação de uma consciência nacional, representou sobretudo uma inversão destes papéis. Ao antigo dominador (o estrangeiro e o colaboracionista Tutsi) devia suceder o antigo dominado (o “verdadeiro ruandês”, o Hútu maioritário).
Uma outra ideia que gostaria de partilhar convosco é a de que este foi um genocídio agrário. Para além da força do Estado e do peso da História, o que levou tantos camponeses Hútu a matar os seus vizinhos Tutsis, foi também a questão da terra, da sua escassez e vulnerabilidade. O Ruanda é um país pequeno, e em 1994 era um país pobre, onde a sobrevivência de mais de 90% da população dependia do trabalho da terra. E os Hútus, agricultores por necessidade e tradição, consideravam-se os primeiros ocupantes, os filhos legítimos dessa terra.
Num contexto em que a própria subsistência da população estava em causa, era reforçada, entre os camponeses Hútu, a ideia de que a miséria em que viviam era responsabilidade dos Tutsis.
No Ruanda, o genocídio acontece não porque o Estado é fraco ou falhado mas precisamente porque o Estado é forte e omnipresente
Não podemos ignorar também, nesta análise, a motivação material. Durante o genocídio, os trabalhos da terra foram substituídos pela caça ao homem, atividade que agora ocupava o quotidiano dos camponeses. E a morte violenta, assim banalizada, mostrava-se rentável, uma vez que as autoridades permitiam que os camponeses guardassem os bens, as terras e o dinheiro das vítimas. Os novos tempos de abundância contrastavam com a antiga escassez.
Mas a análise deste genocídio, que acontece num pequeno país da região africana dos Grandes Lagos, transcende os limites geográficos da eliminação das vítimas, obrigando-nos a refletir também sobre o papel da chamada “comunidade internacional”.
O início da década de 90 foi marcado por um clima de euforia e otimismo, pelo menos no mundo euro-americano. Com o fim da Guerra Fria e de um Conselho de Segurança bloqueado pelo antagonismo entre as duas grandes potências tornava-se mais fácil, para as Nações Unidas, assumir um papel de defesa e promoção dos direitos humanos e intervir, se necessário, nas situações que “chocassem a consciência da humanidade”.
Este ímpeto humanitário pós Guerra Fria refletia-se em mais e mais ambiciosas intenções, declarações e missões.
À data do início dos massacres, 6 de Abril de 1994, as Nações Unidas tinham uma missão de assistência no Ruanda composta por 2217 militares e 331 observadores, sob o Comando do tenente general Romeo Dallaire.
Nos primeiros dias dos massacres, tornava-se claro o poder dissuasor das Nações Unidas, que carrascos e vítimas consideravam como uma espécie de “grande irmão” atento, que tudo sabia e tudo via. E por isso os Tutsis procuravam refúgio nos lugares onde estava ainda hasteada a bandeira azul e branca, uma espécie de último santuário quando todos os outros santuários tinham já sido violados.
Mas no rescaldo de uma desastrosa intervenção na Somália, em que os corpos de 18 rangers americanos acabariam arrastados pelas ruas de Mogadíscio, 10 capacetes azuis belgas eram assassinados em Kigali, por extremistas Hútu. Como reação, a 20 de Abril, 14 dias depois do início dos massacres, a missão de assistência ao Ruanda foi drasticamente reduzida.
A ONU – refém da morosidade dos processos, de obstáculos logísticos, de erros de comunicação mas, sobretudo refém da falta de vontade política dos Estados com poder de decisão e ação – acabaria por fazer muito pouco, e muito tarde.
Guardiã da paz e da segurança internacionais, neste episódio trágico, o seu papel foi o de uma “testemunha acanhada”, traindo a euforia humanitária que caracterizara os anos anteriores.
Mas na equação de vítimas, culpados e testemunhas não podemos aqui ignorar o papel da Igreja. Em 1994, a grande maioria da população ruandesa, era católica. A Igreja era uma referência fundamental no quotidiano destas comunidades. Encontramos, nessa Igreja, exemplos de vítimas, e exemplos de justos que tentaram, na medida do possível e às vezes até do impossível, combater este mal radical. Mas encontramos também – entre alguns dos pastores e responsáveis – testemunhas silenciosas e cúmplices, que não escaparam a esse processo de “banalização do mal”. Por isso também a Igreja do Ruanda percorreu um caminho de culpa e redenção, assumindo depois um papel ativo e fundamental, amparando os sobreviventes, acolhendo os arrependidos e contribuindo para o traçar de caminhos de perdão e reconciliação.
Findo o genocídio, a ONU – na qualidade de representante de uma comunidade e até de uma “consciência internacional” – assumiria a responsabilidade de fazer justiça, criando o Tribunal Penal Internacional para o Ruanda. Apesar de ser visto por muitos como uma espécie de acto de contrição – ou talvez por isso – este Tribunal acabaria por ter um importante papel, não apenas para a reconciliação do “novo” Ruanda com o mundo exterior, mas também para o próprio processo de reconciliação nacional, devolvendo aos sobreviventes – num plano internacional - a humanidade que lhes havia sido retirada durante o genocídio.
Mas para além da justiça externa e da reconciliação, era fundamental criar uma resposta nacional para o enorme desafio de fazer justiça num país destruído e praticamente dividido entre carrascos, vítimas e testemunhas, e em que um governo inevitavelmente associado à minoria Tutsi acabava de tomar o poder.
E mais uma vez, a partir da singularidade do caso ruandês, surgiam questões de fundo. Perante a necessidade de fazer justiça, levanta-se uma questão fundamental: seria possível julgar um mal tão radical?
 Cada genocídio é único. Único nas circunstâncias. Único nos números – quantos morreram, quantos sofreram, quantos mataram e fizeram sofrer – e único nos métodos. É, no entanto, um crime que se repete na História
Cada genocídio é único. Único nas circunstâncias. Único nos números – quantos morreram, quantos sofreram, quantos mataram e fizeram sofrer – e único nos métodos. É, no entanto, um crime que se repete na História
Hannah Arendt, numa carta dirigida a Karl Jaspers e a propósito dos crimes nazis, questiona a possibilidade de se julgar um mal radical, argumentando com a dificuldade em julgar atos que originam “uma culpa que ultrapassa o crime” e “uma inocência que está para além do bem ou da virtude”. Jaspers responde-lhe dizendo que essa culpa que ultrapassa a culpa criminal assume inevitavelmente aspetos de “grandeza satânica”, o que considera totalmente inapropriado para os nazis. Os episódios de violência do III Reich, diz Jaspers, deveriam ser vistos na sua “total banalidade” e na sua “prosaica trivialidade”.
Paul Kagame e o novo governo da união nacional parecem ter escolhido a via apontada por Jaspers. Mas mesmo assumindo a possibilidade e necessidade de fazer justiça, era preciso encontrar um mecanismo capaz de julgar e punir os culpados sem comprometer a segurança do país e o processo de reconciliação e reconstrução nacional.
A solução encontrada – combinando um Tribunal Penal Internacional com Tribunais nacionais e com um modelo de justiça popular e alternativo – reflete esse equilíbrio realista, longe de declarações idílicas e grande-eloquentes, entre fazer justiça e assegurar a sobrevivência da comunidade, tendo em conta o número de ruandeses envolvidos no genocídio, de forma direta ou indireta.
Com todas as limitações, estes tribunais populares representavam um modelo de justiça que reproduzia uma das características determinantes deste genocídio, que era a sua proximidade.
Para terminar, gostava de sublinhar uma última ideia sobre a importância de conhecer e estudar estes episódios negros da História.
Cada genocídio é único. Único nas circunstâncias. Único nos números – quantos morreram, quantos sofreram, quantos mataram e fizeram sofrer – e único nos métodos. É, no entanto, um crime que se repete na História. Uma situação limite que, pela sua natureza, dimensão e consequências, inquieta – ou deveria inquietar – a chamada “consciência internacional”. E as histórias dos protagonistas destes episódios obrigam-nos a refletir sobre algumas das grandes questões da política e das relações internacionais: sobre a natureza da nossa natureza humana, sobre os perigos dos Estados totalitários e as consequências dos Estados que falham; sobre as bases que sustentam a defesa e promoção dos direitos humanos, sobre os limites das intervenções humanitárias e sobre a importância da justiça.
Para concluir – quem sabe – que muitas vezes essa justiça, tal como a política, é um difícil exercício dentro da arte do possível.


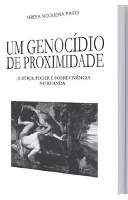
Subscribe
Report