|
|
A reflexão sobre o conceito de justiça passou a ocupar, pelo menos desde a publicação de Uma Teoria da Justiça, de John Rawls, em 1971, o lugar cimeiro da Filosofia Política. |
|
João Cardoso Rosas |
Ana Rita Ferreira
Doutoranda do Instituto de Estudos Políticos da Universidade católica Portuguesa
João Rosas é, indubitavelmente, o intelectual que mais tem contribuído, nomeadamente através da sua obra literária e da sua prática docente, para a importação pela Academia portuguesa desta linha de pensamento filosófico surgida no mundo anglo-saxónico. A sua obra Concepções da Justiça é, então, mais um seu contributo para a divulgação das ideias fundamentais dos principais autores que se debruçaram sobre as questões da justiça – o que equivale a dizer que é mais um seu contributo para nos descrever os aspectos centrais da Filosofia Política contemporânea.
Em Concepções da Justiça, João Rosas cumpre três objectivos: em primeiro lugar, explicar-nos o que distingue a metodologia dos pensadores que tratam a ideia de justiça da dos autores que versam outras áreas; seguidamente, descrever-nos aquilo que caracteriza as três principais concepções de justiça contemporâneas – a liberal-igualitária, a libertarista e a comunitarista –, recorrendo sobretudo ao pensamento dos “pais” fundadores de cada uma delas, mas não deixando de sumarizar também os contributos de alguns dos seus seguidores; por fim, dar-nos a conhecer aqueles que considera serem os dois principais desafios à conceptualização da justiça nos dias de hoje, que se prendem, por um lado, com a relação entre a justiça e a multiculturalidade – isto é, com a dificuldade de, em sociedades pluralistas, encontrar uma concepção de justiça unanimemente partilhada – e, por outro lado, com a relação entre a justiça e a globalização – ou seja, com a dificuldade de pensar a justiça em termos globais, para lá das fronteiras dos Estados nacionais.
No primeiro capítulo deste livro (“Justiça: Conceito e Concepções”), Rosas começa por nos transmitir a ideia de que a Filosofia Política contemporânea já não pensa a justiça como uma entidade inteligível, com uma “essência fixa”1 e dona de uma definição única, separada da “esfera do sensível”. Pelo contrário, renuncia à teoria que marcou toda a tradição filosófica ocidental desde Platão, para tentar perceber como poderá efectivamente ser uma sociedade socialmente justa. Esta mudança metodológica faz com que a ideia de justiça apresente hoje usos diferentes na discussão filosófica – usos que disputam, entre si, tornarem-se a “melhor versão do conceito”2.
Ainda assim, Rosas diz-nos que existe um “conceito básico de justiça”3, que julgamos poder resumir da seguinte forma: os direitos e os deveres (ou benefícios e encargos) devem ser distribuídos pelos membros de uma sociedade de acordo com regras de equilíbrio, que tratem de forma igual os indivíduos considerados como iguais, sem que haja lugar a discriminações arbitrárias, mas sem deixar de definir claramente quais os aspectos que permitem declarar a igualdade (ou desigualdade) entre os indivíduos. Sobre este conceito todos os filósofos parecem estar de acordo, entrevê Rosas, sendo que a discordância surge apenas sobre os critérios que permitem declarar igualdade entre os indivíduos e, consequentemente, sobre quais as regras a adoptar para distribuir benefícios e encargos sociais e sobre o que pode ou não ser considerado uma discriminação arbitrária nessa distribuição. As diferentes visões sobre estes elementos do conceito de justiça traduzem-se nas diferentes concepções de justiça – que, como refere o autor, acabam, então, por articular diferentes ideias de igualdade.
No segundo capítulo (“A Concepção Liberal-Igualitária”) é-nos, então, apresentada a concepção justiça que tem a sua origem nas ideias de Rawls, autor que defende, em Uma Teoria da Justiça, que a sociedade justa será aquela cuja “estrutura básica” (Constituição, leis sobre propriedade e fiscalidade, instituições que garantem direitos sociais) cumprir dois “princípios de justiça” na distribuição dos “bens sociais primários” (liberdades, oportunidades, rendimento e riqueza). O primeiro princípio é o que garante a igualdade na distribuição das liberdades básicas, dos direitos civis e políticos; o segundo princípio é aquele que garante a “igualdade democrática”, ou seja, garante, por um lado, a “igualdade equitativa de oportunidades” e assegura, por outro lado, o cumprimento do “princípio da diferença”, que mais não é do que uma forma de redistribuição da riqueza que assevera que haverá uma maximização da posição dos mais desfavorecidos.

Porém, neste capítulo, Rosas não só expõe estas principais ideias da concepção “individualista”, mas simultaneamente “solidária”4, da justiça rawlsiana, como aborda de forma exaustiva os vários aspectos focados por Rawls para justificar ser a sua teoria aquela que mais se adequa às sociedades. Relata a hipótese neo-contratualista da “posição original” dos indivíduos, sob um “véu de ignorância”, a escolha da regra “maximin” para a decisão sobre os princípios de justiça a adoptar, e as várias etapas percorridas a partir daí, no sentido da sua execução; explica também as razões que Rawls considera levarem os indivíduos a abdicar de outros princípios de justiça concorrentes; apresenta ainda os argumentos rawlsianos sobre o facto de os seus princípios permitirem corrigir a “lotaria social” e a “lotaria natural”.
Em “Concepções da Justiça”, João Rosas descrever-nos aquilo que caracteriza as três principais concepções de justiça contemporâneas – a liberal-igualitária, a libertarista e a comunitarista –, recorrendo sobretudo ao pensamento dos “pais” fundadores de cada uma delas, mas não deixando de sumarizar também os contributos de alguns dos seus seguidores
É certo que Rosas já havia percorrido um percurso semelhante noutras obras anteriores. Contudo, é nesta que mais aprofunda a teoria rawlsiana e inclui algumas reflexões originais, que não deixaram de nos causar alguma surpresa. Se o autor afirma, por exemplo, que “Rawls não é propriamente um liberal do Estado-Providência”, diz-nos também que esta desconfiança por parte de Rawls se deve ao facto de “os Estados-Providência existentes permitirem um grande número de desigualdades que não são compatíveis com (…) o princípio da diferença”5. Geralmente pensamos que as dúvidas de Rawls relativamente ao Estado Social se devem mais à sua forte defesa do liberalismo – embora o autor também se afaste de um sistema de laissez-faire. No entanto, Rosas interpreta o princípio da diferença de Rawls, que – recordemos – permite maximizar a posição dos mais desfavorecidos, como conduzindo necessariamente a “uma aproximação entre os extremos, ou a uma igualização tendencial”6 entre os membros da sociedade. Ora, temos dúvidas que o melhoramento da posição dos mais pobres, exigido pelo princípio da diferença, signifique necessariamente uma diminuição do fosso que os separa dos mais ricos. Na verdade, parece-nos que Rawls, na forma como enuncia o seu princípio da diferença em Uma Teoria da Justiça, está, de facto, preocupado com a posição absoluta dos mais desfavorecidos, mas não com a sua posição relativa face aos mais favorecidos. Se imaginarmos um cenário em que há, num determinado momento, mais riqueza a distribuir do que num momento anterior, podemos dizer que é certo que o princípio da diferença exigirá que se melhore, por via da distribuição, a posição daqueles que estão na base da pirâmide social; no entanto, o mesmo princípio não nos parece negar que aqueles que ocupam o topo da mesma pirâmide possam melhorar muitas vezes mais a sua situação. No fundo, julgamos que, se o indivíduo “A” passar de um rendimento de 10 para um de 20 após redistribuição, e o indivíduo “B” passar de um rendimento de 50 para um de 100, o princípio da diferença não deixa de se cumprir, embora a desigualdade entre A e B tenha aumentado. Parece-nos, pois, que, para Rawls, e ao contrário do que Rosas indicia, esta situação seria justa, apesar de ser mais economicamente mais desigual. No entanto, concedemos que a fórmula usada por Rawls em Justice as Fairness: a Restatement, trinta anos depois de ter escrito seu opus magnum, para descrever os princípios da justiça é mais ambígua relativamente a este aspecto, podendo suscitar dúvidas sobre o facto de o princípio da diferença implicar ou não um combate às desigualdades – talvez tenha havido, ao longo dos anos, uma mudança de posição do autor relativamente a este aspecto e, se assim for, as dúvidas que levantámos não têm qualquer razão de ser. Valeria, provavelmente, a pena aprofundar este ponto.
Um outro aspecto que poderíamos referir relativamente a este capítulo, se fossemos totalmente perfeccionistas, teria que ver com o menor espaço dedicado a autores seguem a concepção de justiça liberal-igualitária, partindo na sua maioria da visão de Rawls, mas acrescentando novos aspectos, nuances, críticas. As ideias centrais de Dworkin, Amartya Sen, Van Parijs, Bruce Ackerman são referidas por Rosas, mas cada um deles é pouco explorado. É certo que, comparativamente, Rawls é muito mais “rico” do que estes seus sucessores, mas talvez pudesse ceder-lhes aqui um pouco mais de protagonismo.
 As concepções libertarista e comunitarista de justiça foram, em grande medida, desenvolvidas contra a concepção liberal-igualitária, nomeadamente tal como formulada por Rawls. A primeira é tema do terceiro capítulo (“A Concepção Libertarista”) e, se Rosas parte de uma definição de libertarismo que nos parece consensual – “corrente que coloca o acento tónico apenas na liberdade negativa”, sendo esta “entendida como protecção de uma esfera individual inviolável”, dentro da qual o indivíduo “pode fazer o que quiser consigo mesmo e com as suas posses”7 – faz, logo de seguida, um exercício que se nos afigura correcto e lógico, mas que julgamos ser original na sua obra: a “separação” entre “libertarismo económico” e “libertarismo ético”.
As concepções libertarista e comunitarista de justiça foram, em grande medida, desenvolvidas contra a concepção liberal-igualitária, nomeadamente tal como formulada por Rawls. A primeira é tema do terceiro capítulo (“A Concepção Libertarista”) e, se Rosas parte de uma definição de libertarismo que nos parece consensual – “corrente que coloca o acento tónico apenas na liberdade negativa”, sendo esta “entendida como protecção de uma esfera individual inviolável”, dentro da qual o indivíduo “pode fazer o que quiser consigo mesmo e com as suas posses”7 – faz, logo de seguida, um exercício que se nos afigura correcto e lógico, mas que julgamos ser original na sua obra: a “separação” entre “libertarismo económico” e “libertarismo ético”.
Rosas interpreta o princípio da diferença de Rawls, que permite maximizar a posição dos mais desfavorecidos, como conduzindo necessariamente a “uma aproximação entre os extremos, ou a uma igualização tendencial” entre os membros da sociedade.
Do libertarismo económico diz-nos girar em torno do mercado livre, defendendo a ausência de qualquer interferência por parte do Estado, por a considerar sempre inibidora da eficiência, prejudicial ao crescimento económico e limitadora da liberdade de acção dos indivíduos – mesmo que essa interferência ocorra sob a forma de políticas públicas que visam a justiça social através de “determinados padrões distributivos”8, como acontece nas democracias liberais. Daqui retira, muito naturalmente, ser Friedrich Hayek o principal representante deste libertarismo económico – numa catalogação diferente do habitual epíteto de neo-liberalismo, mas que nos parece muito correcta.
Relativamente ao libertarismo ético, Rosas recorre sobretudo ao pensamento de Robert Nozick, explicando, em primeiro lugar, como em Anarquia, Estado e Utopia, este autor desenvolve a ideia lockeana de direitos individuais “pré-políticos”, equiparáveis a direitos naturais, todos eles direitos negativos absolutos, como o direito à vida, à liberdade e à propriedade, direitos que ninguém pode violar e dos quais cada indivíduo pode dispor como entender, pois é o seu próprio proprietário. Rosas mostra, então, como, a partir daqui, Nozick irá sustentar ser o Estado mínimo o mais adequado para proteger estes direitos, construindo, assim, a sua “teoria do justo título”. Para Nozick, desde que se cumpram os princípios de justiça na aquisição e nas transferências – que estipulam que é válida qualquer aquisição ou transferência de propriedade que não viole os direitos individuais – e desde que se recorra ao princípio da rectificação, se um destes dois primeiros princípios for violado, então, a situação daí decorrente é justa, sendo que, para a garantir, não é necessário um Estado mais extenso do que o Estado mínimo. Rosas descreve os principais aspectos do pensamento deste autor e não deixa de rematar com a explanação do fantástico “exemplo Wilt Chamberlain” – com o qual Nozick procura mostrar como qualquer tentativa de justiça distributiva é contrária à liberdade dos indivíduos – para concluir que a concepção de justiça deste autor é “ultra-individualista e “proprietária” da liberdade”9. No fundo, como frisa Rosas nas suas conclusões finais, a visão libertarista concorda com os liberais-igualitários no que concerne à igual distribuição de liberdades básicas, mas, ao contrário destes, exclui, da noção de justiça, a distribuição de oportunidades ou de riqueza.
O comunitarismo, cuja concepção de justiça é apresentada no quarto capítulo (“A Concepção Comunitarista”), engloba várias correntes que Rosas diz terem em comum a crítica aos diferentes “liberalismos”, que consideram individualistas, e o facto de considerarem que “os indivíduos não existem enquanto tal, ou, pelo menos, não podemos dar sentido à sua existência autónoma se não os encararmos no seio das suas relações e interacções sociais”. Neste capítulo, Rosas não se centra num só autor, dividindo-se antes por dois expoentes do comunitarismo: Michael Sandel e Michael Walzer, mas deixando de fora deste tópico Charles Taylor, que é apresentado mais tarde, a propósito do desafio do multiculturalismo.
Sandel, embora imprescindível num livro que trate as concepções de justiça, é, na nossa opinião, o autor menos interessante de todos os abordados, uma vez que se mantém distante da concretização da sua teoria. Sandel critica Rawls pelo facto de o seu “primado da justiça” se mostrar “anti-consequencialista” e “anti-teleológico”10 – isto é, pelo facto de, em Rawls, o justo ter prioridade sobre o bem e não ser justificado por nenhuma ideia completa de bem. Sandel acusa Rawls de pensar a pessoa como “descontextualizado” e “situado fora da comunidade”, considerando, nomeadamente, que o primeiro princípio de justiça, que garante as liberdades básicas dos indivíduos, não pode ser enunciado de forma tão neutral e geral, sem ter em conta uma determinada concepção de bem – uma concepção de bem vigente numa sociedade concreta e que deve impor-se aos princípios de justiça abstractos. Neste ponto o autor parece-nos ser algo relativista, mas este é um aspecto que Rosas não aborda a propósito de Sandel, fazendo-o apenas mais à frente, referindo-se às críticas semelhantes feitas a Michael Walzer.
Walzer é magistralmente apresentado. Rosas mostra-nos como este autor não pretende, na sua obra Esferas de Justiça, formular princípios de justiça gerais e abstractos, mas dá aquilo que nos parece ser um passo em frente relativamente a Sandel, pois indica um método empírico para encontrar esses princípios, um método de interpretação da realidade de cada comunidade. Para Walzer “não existe uma lista universal (…) de bens sociais primários”11, devendo antes partir-se de uma comunidade, num tempo e num lugar, para pensar os seus valores políticos e, consequentemente, aquilo que se entende por justiça. Cada sociedade atribui valor a determinados bens, sendo que estes bens socialmente valorizados se constituem naquilo que o autor chama “esferas de justiça” – daqui decorre que as diferentes sociedades terão diferentes esferas de justiça. Apesar de se parecer aproximar igualmente de um certo relativismo, julgamos que Walzer não incorre nesse erro, pois, como Rosas sublinha, embora o autor admita a existência de uma pluralidade de esferas de justiça, também afirma existir um “universalismo contextual”. No fundo, segundo Walzer, é possível encontrar “estruturas morais convergentes, uma moral mínima”12 comum a todas as comunidades. Parece-nos que isto ocorre porque, para este autor, existem várias esferas de justiça que se detectam em qualquer sociedade: a esfera da “qualidade de membro de uma comunidade política”, a da “provisão social”, a “do dinheiro e das mercadorias”, a “esfera dos cargos e empregos”, a da “graça divina”, a esfera do “poder político”, do “amor” ou da “educação”13 – todas elas tratadas por Rosas. É verdade que Walzer concede que o valor atribuído a cada uma destas esferas e a decisão sobre os critérios para distribuir os vários bens que as compõem também variam entre sociedades. No entanto, parece-nos que é mais uma vez possível concluir que esta não é uma nova brecha aberta ao relativismo, dado que Walzer defende uma ideia de “igualdade complexa”, que nos diz, como explica Rosas, que uma distribuição desigual de um bem pode ser justificável por determinados critérios, mas que critério algum justifica que um indivíduo monopolize um bem social de modo a colocar-se numa situação de “predomínio”, isto é, de modo a poder utilizar esse bem, integrante de uma determinada esfera, “para obter vantagens numa outra esfera”14. Rosas repesca de Walzer um exemplo esclarecedor: nenhum indivíduo pode utilizar a sua situação predominante na esfera do mercado para obter supremacia na esfera do poder político. Esta situação, segundo Wlazer, estará sempre moralmente errada. Partindo daqui, Rosas explica-nos a “estratégia distributiva” do autor, que visa impedir esta situação, através da “manutenção das fronteiras entre as esferas”15, e mostra-nos como esta terá necessariamente efeitos igualitários, apesar de o próprio Walzer não o assumir claramente. Assim, ao garantir a igualdade na distribuição dos princípios da justiça que cada comunidade considere importantes, a concepção comunitarista apresenta a sua noção de igualdade.
No capítulo seguinte (“Justiça e Multiculturalismo”), Rosas introduz, então, um dos grandes desafios com que as três concepções de justiça se vêem hoje confrontadas, nomeadamente por os seus principais autores terem tratado a questão no “pressuposto não assumido da homogeneidade cultural”16 das comunidades. Porém, Charles Taylor e Will Kymlicka, como nos diz Rosas, colocaram a diversidade cultural no centro das preocupações da Filosofia Política, procurando explicar as razões pelas quais as concepções de justiça devem incorporar políticas públicas e direitos especiais que protejam as minorias. Rosas descreve-nos de forma muito clara o pensamento de Taylor que, partindo do comunistarismo, vem advogar a introdução “política da diferença”, como complemento da tradicional “política da igual dignidade”, já que a considera a única forma de preservar as culturas minoritárias, que, na sua opinião, têm tanto valor quanto as culturas maioritárias que as podem ameaçar. O exemplo paradigmático dado por Taylor – e aqui enunciado por Rosas – é o da necessidade da obrigatoriedade do ensino do francês, no Quebeque, para que a língua e a cultura de uma minoria não se dissolvam perante o Canadá anglófono).
Kymlicka parte de uma posição liberal-igualitária, mas parecenos ir mais longe do que Taylor na defesa do multiculturalismo, pois defende a introdução de três tipos de direitos multiculturais: os “direitos de autogoverno” (autodeterminação, criação de reservas, políticas federalistas), os “direitos poliétnicos” (concessão de feriados, direitos a utilizar a própria língua perante a administração pública, direito à isenção de códigos de indumentária) e os “direitos especiais de representação política” (quotas, círculos eleitorais para as minorias). Tudo isto nos é explicado em detalhe por Rosas, que não deixa de expor igualmente a principal crítica feita a este tipo de direitos, que tem que ver com a possibilidade de eles poderem conduzir à opressão dos indivíduos que pertencem aos grupos minoritários, assim como não deixa de explicar a resposta de Kymlicka a esta objecção, através da distinção entre “protecções externas” e “restrições internas”, que Rosas mostra considerar poder não ser suficiente para travar práticas que consideramos inaceitáveis (como a poligamia, ou a excisão feminina) – uma opinião que subscrevemos.
Rosas não deixa, aliás, de referir alguns argumentos antimulticulturalistas, como os de David Miller e Brian Barry, mas, mais uma vez, pensamos que qualquer um dos autores podia merecer um tratamento mais demorado, de modo a percebermos melhor como ambas as concepções – a liberal-igualitária e a comunitarista – podem oscilar entre ambas as posições – a da defesa dos direitos multiculturais ou a de advogar de uma justiça que trate todos os indivíduos igualmente.
O desafio da globalização é tratado no sexto e último capítulo (“Uma Justiça Global?”), que Rosas reconhece não ser “tão exaustivo como os anteriores”17, uma vez que a filosofia ainda está a dar os primeiros passos neste campo, já que os autores que trataram cada uma das concepções de justiça fizeram-no sempre pensando a justiça no domínio dos Estados, em termos locais e não globais. Rosas aborda, a este propósito, a posição de Rawls, que, em A Lei dos Povos, defende um “dever de assistência”, mas não um princípio de justiça global.
Rosas lembra, contudo, que Charles Beitz ou Thomas Pogge, liberaisigualitários não satisfeitos com a postura de Rawls, têm procurado desenvolver uma teoria da justiça global. Beitz foi o primeiro a sugerir a “aplicação da concepção de “justiça como equidade” e o próprio mecanismo contratualista da “posição original” à esfera internacional”18, uma vez que a crescente cooperação (e conflito) global criou benefícios e encargos globais, que é necessário distribuir pelos povos do mundo – na sua opinião, aplicando generalizadamente os dois princípios de justiça rawlsianos, nomeadamente o princípio da diferença, um tema explorado por Rosas de forma muito pertinente. Rosas também não deixa de expor as diferenças entre a “tese fraca” e a “tese forte” da teoria de Beitz, mostrando como esta última pode levantar sérias objecções práticas e como foi sobretudo a partir da primeira que Pogge desenvolveu o seu trabalho recente.
Pogge preocupa-se claramente com o facto de 20% da população mundial viver com menos de um dólar por dia, quantia considerada o “mínimo suficiente”, e pensa que a estrutura básica global, com os seus acordos e organizações, também é responsável por esta situação, já que contribui para permitir o que designa “privilégios de acesso” a “empréstimos da banca internacional” e a “recursos naturais”. Estes aspectos são claramente explicados por Rosas, que não deixa ainda de apresentar as linhas-mestras do pensamento dos principais autores que se opõem à ideia de justiça global, Thomas Nagel e Peter Singer, que, embora compreendendo as razões teóricas, lamentamos não poderem ser tão aprofundadas como as dos seus defensores.
Um último detalhe que talvez possamos apontar a este brilhante livro de João Rosas é o facto de não incluir, entre os principais desafios com que as concepções de justiça se deparam nos dias de hoje, a questão da justiça inter-geracional. Sendo certo que esta é também uma área que não está ainda muito explorada, não nos parece afastarse do âmbito da justiça redistributiva que recebe o maior enfoque nesta obra.
Contudo, as “ausências” apontadas servem mais para mostrar a qualidade do texto, que, objectivamente, nos dá a conhecer os principais aspectos das várias teorias da justiça, abrindo-nos inclusivamente espaço para percebermos quais as áreas com interesse para exploração futura. Este Concepções da Justiça equivale, pois, à frequência da melhor disciplina de Filosofia Política contemporânea, sendo indispensável para quem trabalha nesta área, mas também acessível aos não-filósofos que queiram conhecer os principais temas e autores de uma forma clara e apelativa.
Notas
1 ROSAS, João, Concepções da Justiça, Lisboa, Edições 70, 2001, pág. 12;
2 Idem, ibidem, pág. 15;
3 Idem, ibidem, pág. 15;
4 Idem, ibidem, pág. 21;
5 Idem, ibidem, pág. 44;
6 Idem, ibidem, pág. 29;
7 Idem, ibidem, pág. 55;
8 Idem, ibidem, pág. 57;
9 Idem, ibidem, pág. 73;
10 Idem, ibidem, pág. 79;
11 Idem, ibidem, pág. 86;
12 Idem, ibidem, pág. 96;
13 Idem, ibidem, págs. 88-92;
14 Idem, ibidem, pág. 93;
15 Idem, ibidem, pág. 94;
16 Idem, ibidem, pág. 99;
17 Idem, ibidem, pág. 115;
18 Idem, ibidem, pág. 119.


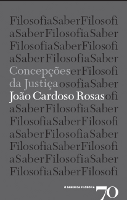
Inscrever-se
Denunciar