|
|
|
|
|
Henry Kissinger |
José Manuel Fernandes
Jornal Público, Membro do Conselho Editorial de Nova Cidadania

Em 1990, quando o mundo vivia a ilusão da “nova ordem internacional” que se seguiu à queda do Muro de Berlim, a economia da China valia 16 vezes menos do que a dos Estados Unidos. Em 2011, numa altura em que o Ocidente se debate com uma crise que só por piedade designamos por “económica e financeira”, a economia norte-americana já só vale 2,5 vezes a chinesa. Esta, por seu turno, já é maior do que a economia japonesa e alemã. Chegou também o tempo em que é a China a chamar a atenção dos Estados Unidos e da União Europeia para que se comportem de forma financeiramente responsável. Dificilmente poderíamos imaginar, em 1990, esta evolução. E não apenas por razões económicas: em 1989 a repressão da revolta dos estudantes que se tinham reunido na Praça Tiananmen parecia condenar a China ao isolamento político.
Se dermos um salto de outros 20 anos para trás, até 1970, encontramos um quadro ainda mais diferente. Contudo foi nessa altura que Henry Kissinger, então conselheiro do Presidente Nixon, iniciou a aproximação diplomática que o levaria a fazer, há exactamente 40 anos, uma primeira visita a Pequim. Foi uma viagem realizada em segredo, mas apenas a primeira das mais de meia centena de idas à China entretanto realizadas pelo antigo homem-forte do Departamento de Estado. Kissinger, que não é apenas um diplomata e um estadista na reforma, é também um académico e estudioso das relações internacionais, associa uma experiência sem paralelo à elaboração do intelectual quando analisa o seu país preferido, a China. Sem deixar de ser um “realista” sempre nos limites do cinismo político.

“Da China”, a mais recente obra deste prolífico autor, não se limita porém aos últimos 40 anos das relações sino-americanas – proporciona-nos, simultaneamente, um interessante (e controverso) tour d’horizon sobre a história das relações da China com o resto do Mundo desde a sua unificação, há mais de dois milénios, por Qin Shihuang, o imperador que nos legou o Exército de Terracota. Desde essa época que os chineses se vêem como a civilização superior e insuperável localizada no centro do mundo conhecido. Até ao choque provocado, no século XIX, pelas guerras com a Inglaterra e outras potências ocidentais, que abriram uma crise identidade que só agora começa a ser ultrapassada, a China sempre se relacionou com o mundo que lhe era exterior como sendo terra de bárbaros – bárbaros que lhe deviam tributo mas com os quais nada havia a aprender. A própria designação chinesa para China – Império do Meio – diz tudo.
O choque entre o Ocidente e o Oriente que se deu a partir do início do séc. XIX foi o choque entre poderes que utilizavam tecnologias militares com diferentes graus de desenvolvimento, mas também o choque de culturas que olhavam e olham para a guerra e para as relações internacionais de forma distinta
Xadrez ou wei qi?
Muitos historiadores radicam os males da China na sua tendência milenar para só se ver a si própria. No século XV, altura em que os imperadores mandaram regressar as frotas imperiais e fecharam os portos, condenaram o país ao isolamento e ao atraso relativo. Quando os comerciantes britânicos reabriram, ao tiro, as rotas comerciais, encontraram um país que ainda se tinha por superior – é deliciosa a forma como Kissinger descreve o confronto entre a urgência dos diplomatas vindos de Londres e a estrita obediência dos mandarins às regras protocolares… – mas que já nem sequer tinha força para se defender dos intrusos. A ideia de que era auto-suficiente revelou-se fatal para a China.
Kissinger olha porém de forma relativamente benevolente para as decisões dos governantes que levaram a China a uma posição de decadência relativa. Dois milénios de história chinesa ter-lhes-iam ensinado que, mesmo quando enfrentavam exércitos estrangeiros vitoriosos, os novos senhores eram depois “absorvidos” pela China e pela cultura chinesa. O Império do Meio podia ser submetido por hordas vindas do exterior, mas depois impunha-lhes a sua cultura e as suas tradições. De resto a última dinastia, a dinastia Qing que teve de lidar com os ocidentais, era de origem mongol. Fiéis ao confucionismo, pacientes, os chineses nunca procuraram construir um império no sentido ocidental e expansionista do termo, procuraram antes garantir a segurança dos vastíssimos territórios centrais abarcados pelas bacias do Yangtsé e do Rio Amarelo, regiões de terras férteis capazes de alimentar uma enorme população.
O choque entre o Ocidente e o Oriente que se deu a partir do início do século XIX, depois de uma canhoeira inglesa ter devastado a foz do rio das Pérolas, não foi apenas o choque entre poderes que utilizavam tecnologias militares com diferentes graus de desenvolvimento – foi também o choque de culturas que olhavam e olham para a guerra e para as relações internacionais de forma distinta. Kissinger contrasta os ensinamentos de dois clássicos – um chinês, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, e, outro ocidental, Da Guerra, de Carl von Clausewitz – para expor essas diferenças, mas ilustra ainda melhor o seu ponto quando recorre a uma comparação entre o xadrez e o wei qi (ou go, como é mais conhecido). No xadrez o objectivo é conseguir a vitória total matando o rei do adversário; no wei qi pretende-se obter uma vantagem relativa através do cerco às peças do adversário. “Se o xadrez tem a ver com a batalha decisiva, o wei qi tem a ver com a campanha prolongada”, escreve Kissinger. “O xadrez ensina os conceitos clausewitzianos de ‘centro de gravidade’ e de ‘ponto decisivo’ (…). O wei qi ensina a arte do cerco estratégico”.
A preocupação com o cerco é natural num império “do Meio” rodeado por poderes hostis. A preocupação será ainda maior se pensarmos no carácter essencialmente sedentário desta nação de camponeses obrigada a enfrentar, ao longo de milénios, as ameaças de povos nómadas vindos do Norte (a muralha da China tem mais de dois milénios). Mais: “para os sábios clássicos da China, o mundo nunca poderia ser conquistado; governantes sensatos apenas podiam esperar harmonizar-se com os seus inimigos. Não havia Novo Mundo para povoar, nem redenção à espera da Humanidade em costas distantes. A terra prometida era a China e os chineses que lá estavam”.
O peso de uma história milenar
Kissinger radica pois nos “hábitos milenares de superioridade” a forma como a China entrou na era moderna: acreditava na relevância universal da sua cultura, mas não praticava o proselitismo; era (ainda) o país mais rico do mundo, mas ignorava o comércio externo e a inovação; tinha uma elite instruída e competente, mas que foi incapaz de perceber o que de radicalmente novo estava a acontecer a Ocidente.
O fim do Império e o advento da República não foi um processo pacífico. A China foi sacudida por revoltas que fizeram dezenas de milhões de mortos (talvez tantos como a I Guerra Mundial). Vizinhos poderosos (a Rússia e o Japão) ocuparam partes do seu território. Senhores da guerra repartiram o território na linha da tradição sangrenta dos períodos inter-dinásticos. E às batalhas do II Guerra juntou-se a guerra civil entre nacionalistas e comunistas, de que estes acabariam por sair vencedores.
Mesmo assim dificilmente se imaginaria um regime mais diferente do da China Imperial do que a China Popular, proclamada a 1 de Outubro de 1949 por Mao Zedong, Comunista mas também nacionalista, Mao não desejava apenas restaurar a glória da China, o seu milenar orgulho, queria ao mesmo tempo construir uma China nova, que fosse uma imagem invertida da velha China. Adepto da revolução permanente, incapaz de suportar a estabilidade e a concórdia, obcecado com o controlo do poder, Mao queria também romper com o confucionismo para colocar, no seu lugar, uma espécie de marxismo chinês, um arrazoado de máximas cuidadosamente destiladas para as páginas do Pequeno Livro Vermelho.
Uma coisa é colocar as opções da diplomacia chinesa numa perspectiva de longo prazo; outra, bem diferente, é dar sempre razão aos dirigentes chineses, curvar-se a cada página perante a sua superior cultura, visão e inteligência
Contudo, como Kissinger nota logo nas páginas de abertura deste seu livro, tudo na China vem carregado de história, e poucos como Mao estariam tão conscientes do seu imenso legado histórico. “Em nenhum outro país se poderia conceber que um líder moderno iniciasse um importante empreendimento nacional invocando princípios estratégicos com um milénio de antiguidade – nem que pudesse esperar confiadamente que os seus colegas compreendessem o significado das suas alusões”, notou a propósito da forma como o líder chinês defendeu a guerra contra a Índia (em 1962) baseando-se nos ensinamentos de batalhas travadas 1300 anos antes.
Uma visão benevolente
O problema com Kissinger é que leva os seus raciocínios históricos longe de mais. Uma coisa é colocar as opções da diplomacia chinesa numa perspectiva de longo prazo, mostrando como elas reflectem não só uma sabedoria milenar como uma cultura distinta da nossa; outra coisa bem diferente é dar sempre razão aos dirigentes chineses, curvar-se a cada página perante a sua superior cultura, visão e inteligência. Por exemplo: é pertinente associar a consciência de um risco de “cerco estratégico” à forma como a China se deixou envolver na guerra da Coreia ou ao modo como reagiu à aliança formal entre a União Soviética e o Vietname, mas é duvidoso que isso chegue para justificar acções políticas de efeitos ainda hoje muito duvidosos, como a invasão do Vietname em 1978, em que o Exército Vermelho se mostrou impreparado para enfrentar os experientes vietnamitas e sofreu baixas pesadíssimas.
No entanto, Kissinger inclina-se sempre face a uma alegada superior inteligência estratégica dos líderes chineses, de Mao a Hu Jintao, passando por figuras tão diferentes como o subtil Zhou Enlai, o determinado Deng Xiaoping ou o indiferente Hua Guofeng (o líder que, formalmente, sucedeu a Mao). Já a diplomacia soviética é ridicularizada amiúde e não são poucas as vezes em que também se distancia da linha seguida pelos Estados Unidos. Há como que um fascínio indisfarçável pela sabedoria atribuída a sucessivas lideranças chinesas.
Esta benevolência vai ao ponto de Kissinger mostrar alguma compreensão pelas escolhas mais controversas das lideranças chinesas, levando-o a apresentar a sua história recente a uma luz quase sempre favorável. Atribui, por exemplo, apenas 20 milhões de mortos à fome generalizada causada pelo Grande Salto em Frente, quando a bibliografia converge na ideia de que essa campanha louca lançada por Mao Zedong – que Kissinger trata como “o rei filósofo”… – causou 40 milhões de mortos. Distancia- se da mais recente grande biografia do líder chinês – Mao: A Historia Desconhecida, de Jung Chang e Jon Halliday, edição portuguesa da Bertrand – classificando-a como “controversa”, se bem que “intelectualmente estimulante”. De uma forma geral tem um olhar compreensivo para com o ditador, a quem credita o mérito de ter conseguido manter a China unida e capaz de emergir como uma superpotência, subscrevendo sem grandes estados de alma a tese oficial chinesa de que os crimes de Mao foram “males necessários” à transformação do país.
Bombardear nos dias ímpares
Mesmo assim este livro revela-nos muitos pormenores – em especial das negociações directas entre os Estados Unidos e a China – cujo significado ilumina a nossa percepção da peculiar cultura do velhíssimo Império do Meio. Um dos mais curiosos refere-se a um dos conflitos armados entre a China Popular e o regime de Taiwan, antiga Formosa. De facto os nacionalistas, ao contrário da percepção habitual, não controlam apenas a sua ilha, pois detêm também um conjunto relativamente vasto de pequenos ilhéus quase costeiros. Estes ilhéus ficam a apenas algumas centenas de metros da China continental e, do ponto de vista militar, há muito que poderiam ter sido tomados pelo poderoso Exército Vermelho. É certo que desde muito cedo os Estados Unidos posicionaram uma das suas esquadras na região, gesto destinado a mostrar que estavam dispostos a defender Taiwan. Pequim, no entanto, nunca desistiu da sua política de “uma só China”, o que teve diferentes manifestações ao longo das mais de seis décadas que decorreram sobre o triunfo dos comunistas. Numa das várias crises no estreito da Formosa (a de 1958), o Exército Vermelho desencadeou uma operação de bombardeamento contra duas dessas ilhas, Quemoy e Matsu, com uma particularidade: só eram disparados tiros aos dias ímpares. Muitos anos depois Zhou Enlai explicou porquê: “O então secretário Dulles [o responsável pela política externa no tempo do Presidente Eisenhower] queria que Chiang Kai-shek [o líder da China nacionalista] abdicasse das ilhas (…). Chiang não estava disposto a fazer isso. Também o aconselhámos a não retirar de Quemoy e Matsu. Aconselhámo-lo a não retirar fazendo fogo de artilharia – isto é, nos dias ímpares bombardeávamolos e não os bombardeávamos nos dias pares. Nem nos feriados. Assim eles entenderam as nossas intenções e não retiraram”.
Tudo é extraordinário nesta declaração, ou nesta confissão, de Zhou. Primeiro, o método: bombardear em dias marcados. Depois, o objectivo: apoiar uma pretensão territorial que contrariava a política oficial chinesa. Por fim, a estratégia: conseguir estabelecer pontes de diálogo tácito com um arqui-inimigo numa linguagem que apenas os chineses entenderiam. Compreende-se que, confrontado com estas formas de “saber fazer”, Kissinger se renda perante o que classifica como “êxitos brilhantes” da diplomacia chinesa. Mais é bem mais difícil é entender a forma como olhou, e ainda olha, para acontecimentos como os de Tiananmen.
Um realista incorrigível
Realista incorrigível – tão realista que nem considera o cinismo das suas posições –, Kissinger sempre defendeu que o massacre não fora mais do que um percalço no caminho das reformas prosseguido pelos líderes chineses. “Tal como a maioria dos norte-americanos, fiquei chocado com o modo como o protesto de Tiananmen tinha acabado”, escreve o antigo Secretário de Estado. “Mas ao contrário da maioria dos norteamericanos, tivera a oportunidade de observar a tarefa hercúlea a que Deng metera ombros durante uma década e meia para remodelar o seu país”. Por isso leu esse “episódio” de uma forma simples: “os líderes chineses optaram pela estabilidade política” e até ficaram “espantados pelas reacções do mundo exterior”. O resto não terão passado de detalhes.
O corolário natural destas posições é a defesa, no capítulo com que encerra o livro, da criação de uma comunidade no Pacífico semelhante à que a geração do pós-guerra construiu no Atlântico. “Poderia um conceito semelhante substituir ou pelo mitigar as tensões potenciais entre os Estados Unidos e a China?”, interroga-se Kissinger. Este conceito é desenvolvido depois de fazer uma viagem no tempo e no espaço para citar um famoso relatório elaborado em 1907 por um funcionário superior do Foreign Office britânico, Eyre Crowe. Nesse relatório explicava-se, sete anos antes da I Guerra Mundial, que um confronto militar entre a Inglaterra e a Alemanha era inevitável, fosse o que fosse que os diplomatas de ambos os lados fizessem. Ora a última coisa que ele deseja que aconteça é que, na China e nos Estados Unidos, ganhem força escolas de pensamento que sigam a linha de Crowe, assim contribuindo para pôr os dois países em rota de colisão.
Em contrapartida, o velho estadista gostaria de prolongar no futuro os princípios daquele que considera ser o maior triunfo da sua carreira diplomática, a aproximação entre a China e os Estados Unidos durante a Presidência de Richard Nixon. De resto algumas das partes mais interessantes do livro são aquelas onde reconstitui o bailado encenado pelos dois países na fase em que ainda não tinham relações formais – e que meteu diplomatas americanos a correrem atrás de diplomatas chineses durante uma passagem de modelos em Varsóvia… Se bem que não encontremos grandes revelações (no seu anterior livro Diplomacia, edição portuguesa da Gradiva, assim como nos vários volumes de memórias, ainda inéditos em Portugal, o autor já tinha revelado tudo), o ponto fica: se em 1971/72 o par Nixon/Kissinger não pretendia apenas tirar partido do conflito sinosoviético para encontrar em Pequim um inesperado aliado, sonhando antes com o estabelecimento de uma relação de longo prazo baseada no respeito mútuo e em consultas regulares, hoje um Kissinger vê esse dia mais perto. Mais: a sua admiração pelos líderes chineses é a admiração por iguais, isto é, por estadistas que desprezam o idealismo e saber praticar o jogo do poder. Como sempre crê que um mundo cheio de Kissingers seria um lugar muito mais tranquilo – o tamanho dos cemitérios nunca o incomodou e continua a não incomodar.


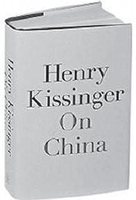
Inscrever-se
Denunciar