|
|
|
|
| História de Portugal Coord. de Rui Ramos A Esfera dos Livros, 2009 |
POR GUILHERME D'OLIVEIRA MARTINS
Presidente do Tribunal de Contas | Membro do Conselho Editorial de Nova Cidadania
Apesar do relativo esquecimento votado a Alexandre Herculano no segundo centenário do seu nascimento, salvaguardadas as honrosas excepções, a verdade é que o autor de “Eurico, o Presbítero” é um exemplo para hoje. Como tem afirmado José Mattoso, só no final do século XX a historiografia portuguesa começou a superar o ponto em que nos deixou Herculano. E temos de reconhecer que a atitude empenhada do velho historiador na busca do antigo carácter português e da consciência nacional continua bem presente. Se enalteceu a vontade do nosso primeiro rei e dos seus companheiros, procurou dar-nos uma chave explicativa da independência baseada nos factos e assente na necessidade de combatermos hoje o fatalismo e a descrença. Quase nove séculos de um Estado, apesar das vicissitudes e dos desfalecimentos, é obra que merece atenção, não podendo haver lugar a explicações de ânimo leve. E se António Sérgio, na senda dos liberais da geração de Garrett e Herculano e dos jovens das Conferências do Casino Lisbonense, falava de “patriotismo prospectivo”, para significar a necessidade de usar a crítica do passado para melhor encarar o devir, a verdade é que essa atitude continua a revelar-se actual e necessária.
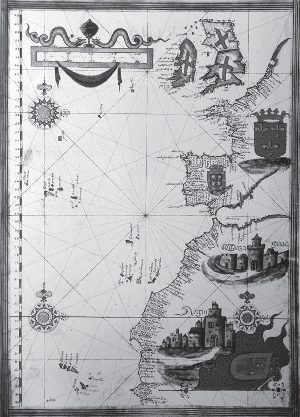 Porque a reflexão histórica ajuda a introspecção colectiva, refiro hoje a recente publicação da “História de Portugal” (Esfera dos Livros, 2009), coordenada por Rui Ramos e realizada em co-autoria com Bernardo Vasconcelos e Sousa e Nuno Gonçalo Monteiro. Trata-se de “uma proposta de síntese interpretativa da História de Portugal desde a Idade Média até aos nossos dias”, no dizer do coordenador, que preenche um espaço que precisava de ser ocupado. A Idade Média (séculos XI a XV, do condado Portucalense ao início da expansão ultramarina) foi tratada por Bernardo Vasconcelos e Sousa; a Idade Moderna (séculos XV a XVIII, da monarquia e as conquistas à queda de Pombal e à viragem para o oitocentismo) por Nuno Gonçalo Monteiro; e a Idade Contemporânea (das Invasões francesas à democracia europeia) por Rui Ramos. Seguimos uma narrativa, basicamente política, centrada na evolução do Estado e nas decisões políticas fundamentais, que funcionam como fio condutor que procura interpretar os acontecimentos e as suas repercussões económicas e sociais. O texto é claro, atraente e escorreito, a hermenêutica segue a historiografia actual. E tratando- se de uma síntese interpretativa deve compreender-se por Guil her me d’Oli veira Mar tins presidente do tribun al de c ontas | membro do c onselho editorial de n ova c idadania que há sempre algo que fica por dizer (o enquadramento social, as repercussões económicas, a complexidade dos actores políticos, o contexto internacional).
Porque a reflexão histórica ajuda a introspecção colectiva, refiro hoje a recente publicação da “História de Portugal” (Esfera dos Livros, 2009), coordenada por Rui Ramos e realizada em co-autoria com Bernardo Vasconcelos e Sousa e Nuno Gonçalo Monteiro. Trata-se de “uma proposta de síntese interpretativa da História de Portugal desde a Idade Média até aos nossos dias”, no dizer do coordenador, que preenche um espaço que precisava de ser ocupado. A Idade Média (séculos XI a XV, do condado Portucalense ao início da expansão ultramarina) foi tratada por Bernardo Vasconcelos e Sousa; a Idade Moderna (séculos XV a XVIII, da monarquia e as conquistas à queda de Pombal e à viragem para o oitocentismo) por Nuno Gonçalo Monteiro; e a Idade Contemporânea (das Invasões francesas à democracia europeia) por Rui Ramos. Seguimos uma narrativa, basicamente política, centrada na evolução do Estado e nas decisões políticas fundamentais, que funcionam como fio condutor que procura interpretar os acontecimentos e as suas repercussões económicas e sociais. O texto é claro, atraente e escorreito, a hermenêutica segue a historiografia actual. E tratando- se de uma síntese interpretativa deve compreender-se por Guil her me d’Oli veira Mar tins presidente do tribun al de c ontas | membro do c onselho editorial de n ova c idadania que há sempre algo que fica por dizer (o enquadramento social, as repercussões económicas, a complexidade dos actores políticos, o contexto internacional).
“Esta é a História (diz Rui Ramos, no Prefácio) de uma unidade construída pelo poder político através dos séculos. Por isso a narrativa teria de ser estribada pela História política, o que não significa que tivesse de ser uma simples crónica de actos dos titulares da soberania – tentámos que não fosse. O grande problema deste género de História é pressupor, como agente, uma entidade que é o produto e não a causa: a nação, a identidade nacional. Em Portugal, com as sua velhas fronteiras na Europa e a sua actual uniformidade linguística e antiga unanimidade religiosa, é fácil presumir a existência de uma comunhão precoce e imaginá-la como a manifestação de uma vontade e uma maneira de ser homogéneas e preexistentes à História”. Contudo, como demonstraram Orlando Ribeiro ou José Mattoso, as diferenças são muito relevantes. O geógrafo fala de um continente em miniatura e das variegadas realidades que o compõem. O historiador salienta os contrastes e as complementaridades. E a moderna investigação histórica e sociológica tem procurado fazer luz sobre as diferenças que permitiram paradoxalmente criar uma homogeneidade, feita de trocas e de intercâmbios e talvez até de uma certa solidariedade na provação. E é esse paradoxo da identidade e da diferença que tem gerado interpretações simplificadoras quanto ao antigo carácter do português. Afinal, se Herculano punha a tónica na vontade de sermos independentes, Oliveira Martins salientava o “nosso” fundo céltico, o carácter vago e fugitivo, contrastando com a terminante afirmativa do castelhano, ou a nobreza do heroísmo lusitano, diferente da fúria dos nossos vizinhos, ou a nossa ironia ao contrário da violência no centro peninsular, enquanto outros falam da hospitalidade, do receio, da saudade e da melancolia. E não disse M.S. Lourenço, assumindo a crítica de Pessoa a Fradique Mendes, que o português mover-se-ia mais à vontade na sátira, pela deformação e pelo grotesco, não sendo capaz de chegar à ironia, que exigiria a percepção de si próprio? De facto, são muitos os elementos contraditórios neste bocadinho onde a terra acaba e o mar começa. Mas, se falamos das diferenças do carácter português, temos de ir à diversidade ultramarina e à diáspora, o que torna tudo mais complicado. Entende-se, por isso, que “a construção das identidades colectivas e o seu confronto com o pluralismo dos territórios, das comunidades e das opções políticas” sejam cada vez mais importantes, e a história portuguesa é bem ilustrativa da necessidade dessa cautela, seja pela natureza do território de partida (o ocidente peninsular), seja pela heterogeneidade dos lugares onde há influência portuguesa.
 “A visão rectangular de Portugal” é o “resultado da História, e não de qualquer predefinição natural”. Daí as ambivalências na relação entre os povos peninsulares. “A História foi sempre feita por muita gente e com vários objectivos e de várias maneiras”. A “invenção de Portugal” é, pois, complexa e heterogénea. O Mediterrâneo e o Atlântico marcam o território e, sobretudo a sul do sistema montanhoso central, os portugueses são “aqueles em cujos genes mais vestígios se encontram de duas das mais importantes migrações”: os judeus sefarditas e os berberes muçulmanos. A média peninsular dá 69,6% de ascendência nativa ibérica, 19,8 % sefardita e 10,6% berbere; enquanto no sul de Portugal a distribuição é de, respectivamente, 47,6%, 36,3% e 16,1%. A unidade política centralizada, a dependência económica ancestral (para Vitorino Magalhães Godinho, o “orçamento de Estado dependeu durante séculos dos rendimentos obtidos no exterior geralmente associados ao império”), o investimento na comunicação (transporte) mais do que na ocupação territorial (fixação), a diversidade de memórias históricas (não a tentação fragmentária) ou a enigmática descentralização municipalista – tudo define as marcas duráveis e ambíguas da História de Portugal.
“A visão rectangular de Portugal” é o “resultado da História, e não de qualquer predefinição natural”. Daí as ambivalências na relação entre os povos peninsulares. “A História foi sempre feita por muita gente e com vários objectivos e de várias maneiras”. A “invenção de Portugal” é, pois, complexa e heterogénea. O Mediterrâneo e o Atlântico marcam o território e, sobretudo a sul do sistema montanhoso central, os portugueses são “aqueles em cujos genes mais vestígios se encontram de duas das mais importantes migrações”: os judeus sefarditas e os berberes muçulmanos. A média peninsular dá 69,6% de ascendência nativa ibérica, 19,8 % sefardita e 10,6% berbere; enquanto no sul de Portugal a distribuição é de, respectivamente, 47,6%, 36,3% e 16,1%. A unidade política centralizada, a dependência económica ancestral (para Vitorino Magalhães Godinho, o “orçamento de Estado dependeu durante séculos dos rendimentos obtidos no exterior geralmente associados ao império”), o investimento na comunicação (transporte) mais do que na ocupação territorial (fixação), a diversidade de memórias históricas (não a tentação fragmentária) ou a enigmática descentralização municipalista – tudo define as marcas duráveis e ambíguas da História de Portugal.
O surgimento de novas investigações sobre diversos temas e épocas permite-nos ir além ou de leituras já conhecidas e repetidas ou de considerações que a mais recente ciência histórica pôs em causa. Em recente artigo, José Mattoso referia, aliás, que a evolução da história económica e social permitiu adequadamente o “preenchimento dos vazios de conhecimento resultantes do ‘tabu’ salazarista”, segundo o qual essa área do conhecimento estaria eivada de “materialismo” e de “luta de classes”, o que justificava, aliás, uma aversão estrutural, em especial no ensino, a tudo quanto cheirasse a história contemporânea (cf. “Público”, 12.3.10). Ultrapassado o preconceito, é possível pôr em ligação os factores económico-sociais e os políticos e culturais, encontrando diversas chaves para explicar os acontecimentos, em nome da complexidade. Por outro lado, ainda José Mattoso refere três pontos cruciais no método adoptado na elaboração desta “História”: a diferenciação regional, a inserção na história europeia e a consideração das estatísticas económicas (sobre demografia, comércio externo e PIB). E se é certo que Portugal nunca foi uma grande potência, apesar da influência significativa que teve no mundo, a verdade é que a nossa História resultou sempre do encontro e desencontro de influências nacionais e internacionais, havendo ainda que entender a complexidade das relações sociais, não redutíveis a dualismos simplificadores. Vejamos um exemplo, a propósito da génese da expansão: então confluíram a pobreza relativa do reino e a distância ante aos poderes da época, e assim o pequeno território ibérico “teve sobretudo margem de manobra no final do século XV e princípio do século XVI, isto é, nos anos anteriores à estabilização de potências europeias de uma outra escala, como foram as grandes monarquias dos Valois, em França, e dos Habsburgo, senhores de territórios por toda a Europa”. Mais do que explicações grandiloquentes, temos uma análise serena e clara. Afinal, a “margem de manobra” pôde ser aproveitada, no momento próprio e com meios adequados. E assim surge matizada e corrigida a “imagem corrente dos anos de ouro do reino de Portugal”.
Uma narrativa, basicamente política, centrada na evolução do Estado e das decisões políticas fundamentais, que funcionam como fio condutor que procura interpretar os acontecimentos e as suas repercussões económicas e sociais
É aliciante e esclarecedora a viagem desde as origens da nacionalidade, em que as Cruzadas e a “Respublica Christiana” tiveram influência decisiva, passando pela “crise de 1383-85” ou pela génese da “expansão ultramarina” em que a evolução económica e social interna foi influenciada pela citada “margem de manobra” europeia e pela emergência de novas pretensões sociais, bem como pela centralização política que culminou na acção de D. João II e de D. Manuel e pela necessidade de um novo equilíbrio de influências na Europa, no Mediterrâneo e, pela primeira vez, no mundo. Sem explicações heróicas, do que se trata é de procurar ver a tensão existente entre objectivos e realizações e de considerar as oposições entre interesses conflituais e divergentes. Como entender a política de casamentos entre as casas reinantes ibéricas – merecendo ênfase a proclamação do filho de D. Manuel, D. Miguel da Paz (1499), como herdeiro dos tronos ibéricos, com integração de Portugal numa monarquia peninsular com respeito pela sua autonomia? Poderemos entender Alcácer Quibir sem a Batalha de Lepanto? E poderemos perceber a política ibérica de Filipe I de Portugal sem o Estatuto de Tomar (1581) – de certo modo, uma Constituição escrita, consagradora de uma ampla autonomia, no quadro da monarquia dos Habsburgos, “coisa pouco comum daqueles tempos”? E que repercussões efectivas teve a Guerra dos Trinta Anos em Portugal, prolongada pela longa guerra da Restauração ou da Aclamação, onde encontramos a intervenção diplomática do Padre António Vieira? E como compreender, com todas as consequências, que foi o pombalismo a inaugurar em Portugal “a intervenção reformadora e autoritária do Estado e do Governo (segundo a expressão da obra) em múltiplos domínios da sociedade”. É certo que poderíamos esperar uma interpretação mais audaz dos acontecimentos de 1383 ou das circunstâncias que levaram ao “desastre” de Alfarrobeira. A relação entre o infante D. Pedro e o seu neto D. João II aparece diluída, a política de segredo que permitiu preparar a viagem de Vasco Gama envolta no nevoeiro da ausência de provas históricas – mas, mesmo assim, a escolha de Gama é referida como uma provável decisão do Príncipe Perfeito, enquanto não há dúvidas sobre quem definiu a missão de Pêro da Covilhã e Afonso de Paiva. Contudo devemos elogiar a atitude metodológica adoptada, uma vez que nos deixa perante as provas históricas, longe da tentação da integração imaginativa das lacunas…
A história contemporânea, os séculos XIX e XX, constitui um dos aliciantes adicionais desta obra. Aí está o peso indiscutível do centralismo da Arcada e de S. Bento. Há uma grande cópia de informação num período rico de acontecimentos. Depois da Convenção de Évora Monte (1834), que pôs termo à guerra civil, houve, só até 1851, pelo menos cinco golpes de Estado com sucesso e duas guerras civis (1837 e 1846-47), a dependência económica do exterior aumentou e a dívida pública tornou-se a peça fundamental das finanças. Depois vieram os melhoramentos materiais da Regeneração (1851), com crescimento económico sem mudança estrutural, e o “rotativismo” político, que se esgotaria no endividamento externo, sem solução apesar das tentativas reformistas falhadas do fim do século. A crise financeira, a humilhação política do Ultimato inglês, a instabilidade política e social, que vitimaria o rei, ditaram o fim do regime. E a República nasceu sem grandes resistências. A revolução preencheu um “vazio político”. Raul Brandão anotou então no seu diário: “o meu bairro tranquilo: um vizinho sacha as couves com indiferença”. Depois, a história é conhecida, se Afonso Costa impôs a disciplina financeira, as oposições não se fizeram esperar e a guerra desarranjou tudo… Encontramo-nos, afinal, a cada passo, com nós mesmos, levados pelas considerações estimulantes da História… E esta “História de Portugal” constitui um excelente instrumento não só pedagógico, mas também incentivador de novas investigações e de caminhos inovadores. E, com razão, José Mattoso afirma que, por exemplo, em um domínio há novos trabalhos a empreender, e esse é o relativo ao papel da Igreja Católica no desenvolvimento do projecto nacional… Além disso, poderíamos ainda citar a necessidade de repensar o papel dos movimentos descentralizadores e populares na evolução histórica. Contudo, temos já boa matériaprima, a aprofundar. É muito bom que tal aconteça.



Subscribe
Report