Ghia Nodia 
Director da International School of Caucasus Studies na Ilia State University, na Geórgia, e presidente do Instituto do Cáucaso para a Paz
Os acontecimentos dos últimos anos na Europa e nos Estados Unidos demonstram que nada que se afirme como prognóstico científico de que nos espera um futuro pós-nacional é defensável. Uma vez que a expectativa se revelou errada, devemos então revisitar as premissas gerais nas quais se baseia.
De um momento para o outro, com o Brexit e a eleição de Donald Trump, o nacionalismo voltou a estar no centro do debate político. Con- tudo, apesar do aumento da sua relevância prática, a questão do nacionalismo ainda não teve o tipo de reapreciação teórica que merece. Tal reapreciação teria de ter em conta não apenas o lugar que o nacionalis- mo ocupa no mundo actual, mas também o papel mais vasto que desempenhou no desenvolvimento da modernidade. Contudo, apesar de o nacionalismo estar na condição de uma das forças mais poderosas dos tempos modernos, a corrente dominante nas ciências sociais nunca o viu como um problema central nem sequer lhe prestou muita atenção.
Isto sempre me intrigou. Uma explica- ção óbvia é que os cientistas sociais vêem o nacionalismo como algo passageiro, talvez crucial em alguns tempos e lugares, mas, com o devido distanciamento, é apenas um mo- mento na história. Afirma-se expressamente ou assume-se tacitamente que o nacionalismo vai decrescer, ou mesmo desaparecer com- pletamente 1 , sob a pressão das forças gerais do progresso e do desenvolvimento. Se isso for verdade, não há grande utilidade em focarmo-nos demasiado no nacionalismo.
Tal dá a entender que o progresso geral nos vai conduzir a um futuro onde as nações e o nacionalismo se tornarão insignificantes ou, no mínimo, muito menos importantes do que foram ou ainda são. É relevante o facto de que este ponto de vista atravessa não apenas as ciências sociais, mas também a opinião liberal por todo o mundo 2 . Embora alguns especialistas tenham desafiado a assunção de que o nacionalismo é transitório, a corrente dominante nas ciências sociais permaneceu, em grande medida, inabalável, e ainda está à espera do desaparecimento do nacionalismo.
Se o nacionalismo foi considerado uma força de progresso e libertação durante tanto tempo como é que uma visão negativa do nacionalismo se veio a tornar predominante?
Contudo, é hoje muito mais difícil manter viva essa expectativa. Há quem possa desejar mantê-la do ponto de vista normativo, mas os acontecimentos dos últimos anos na Europa e nos Estados Unidos demonstram que nada que se afirme como prognóstico científico de que nos espera um futuro pós-nacional é defensável. Uma vez que a expectativa se revelou errada, devemos então revisitar as premissas gerais nas quais se baseia.
E referiria que este não é apenas um as- sunto para cientistas sociais. Pelo contrário, o problema do nacionalismo prende-se com algo designado por várias pessoas como a recessão, o declínio, a reversão ou a crise da democracia liberal. Há um reconhecimento crescente de que é isso que está a acontecer no mundo actualmente, e diz respeito a todos os tipos de regime: estados autoritários e semi-autoritários, democracias relativamente recentes e democracias sólidas. Neste momen- to, os analistas estão sobretudo a descrever o fenómeno e não a elaborar teorias que o expliquem. Contudo, há uma forte percepção de que o ressurgimento global do nacionalis- mo e o declínio global da democracia estão de algum modo relacionados. Temos, então, de perguntar qual é a relação entre a demo- cracia e o nacionalismo. O primeiro artigo que escrevi para o Journal of Democracy, há cerca de um quarto de século, tratava deste tema 3 . Permanece actual, mas também muito mudou desde então, pelo que se justifica uma nova reflexão.
FORÇA PARA A MODERNIZAÇÃO OU SINAL DE RETROCESSO?
Só é possível compreender a natureza das nações e do nacionalismo no contexto geral do desenvolvimento moderno. Embora Seymour Martin Lipset não se tenha focado muito no nacionalismo fora dos Estados Unidos, continua a ter uma influência notável na nossa compreensão do significado de “mo- dernidade” e “modernização”, o que torna a Palestra Lipset um fórum particularmente oportuno para discutir o nacionalismo, a democracia e a modernidade.
Comecemos por constatar que praticamente todos os académicos que escrevem sobre o nacionalismo o consideram um fenómeno exclusivamente moderno. A Revolução Francesa é o marco mais amplamente aceite. O nacio- nalismo emergiu pouco tempo antes desta ou pouco tempo depois (e como resultado dela). Antes disso, havia colectividades humanas baseadas nos laços dos seus membros, mas a maioria dos académicos considera que as semelhanças entre estes laços e o nacionalismo são superficiais e enganadoras.
A segunda premissa, partilhada por quase todos os académicos, é que as nações e o na- cionalismo são construções. Tal significa que o nacionalismo enquanto doutrina, e enquanto afeição emocional à própria nação, típica entre os indivíduos modernos, não é inata nem dada, mas antes emerge como resultado da acção humana, de forças históricas, ou do caminho do desenvolvimento social. Assim, para os académicos do nacionalismo, a principal tarefa intelectual é determinar precisamente o que está na origem da “construção” de nações e do nacionalismo, e como esta se dá. Nestes temas, os autores divergem bastante.
O entendimento subjacente às nações e ao nacionalismo enquanto construções define-se a si próprio por contraste com outras premissas tipicamente classificadas de “pri- mordialismo” e “essencialismo” (por oposição a “construtivismo”). Ser um primordialista ou essencialista é considerar que a humanidade sempre esteve dividida em unidades que chamamos “nações”, e que estas são objectos naturais, algo “dado”, e que podemos estudar como partes da realidade objectiva.
E aqui reside um paradoxo. Como refe- ri, praticamente todos os académicos que estudam o nacionalismo profissionalmente (pelo menos no Ocidente) acreditam que as nações são modernas e foram construídas. Quem são, então, os “primordialistas” ou os “essencialistas”, e o que se pretende ao combatê-los? Porque é que a maioria dos livros ou dissertações sobre o nacionalismo começa com uma crítica e uma rejeição do primordialismo e do essencialismo, ainda que nenhum académico da corrente dominante defenda esse ponto de vista? A resposta mais provável é que embora os académicos sejam normalmente modernistas e construtivistas, as pessoas que não são especialistas nas ciências sociais tendem a ser primordialis- tas ou essencialistas. Por outras palavras, há um grande desfasamento entre o modo como os cientistas sociais (ou aqueles que estão sob a sua influência) vêem as nações e o nacionalismo e o modo como o resto das pessoas os vê. Note-se que os pontos de vista científicos divergem dos das pessoas comuns em muitos temas, mas aqui estamos a lidar com algo que está próximo dos corações de muitos cidadãos e que desempenha um papel relevante na política contemporânea. Encontram-se atitudes divergentes relati- vamente a “nações” no grande fosso entre a opinião liberal de elite e os pontos de vista de pessoas comuns, que são em muito maior número do que aqueles cujos pontos de vista se baseiam nas ciências sociais.
O carácter moderno das nações coloca-nos ainda perante outro paradoxo. Tendemos a acreditar que a modernidade tem a ver com progresso e desenvolvimento 4 . Se as nações são modernas, não deveria a sua emergência ter uma qualidade progressiva? Mas o nacio- nalismo é normalmente considerado mau e perigoso – algo que deve ser ultrapassado, não celebrado. Como é que essa atitude se pode conciliar com um reconhecimento da modernidade do nacionalismo?
Não esqueçamos, antes de mais, que nem sempre foi assim. No século XIX, a maioria dos nacionalistas era simultane- amente liberais. Os liberais combateram os conservadores, as forças estabelecidas do trono, do altar e da aristocracia. O na- cionalismo era o aliado dos liberais, uma vez que o nacionalismo voltava as massas contra o Ancien Régime (o Antigo Regime) em nome do povo e das suas esperanças de alcançar autonomia governativa. Nem todos os liberais recebiam de bom grado o nacionalismo – alguns sempre se sentiram relutantes em relação a qualquer tendên- cia de identificação “das massas” com “o povo” – mas ser-se liberal e nacionalista simultaneamente era, ainda assim, uma combinação bastante típica.
A Revolução Americana é considerada um dos acontecimentos mais progressistas na história mundial, mas poucos sublinham o facto de que foi também uma revolução nacionalista que criou aquela que Lipset chamou “a primeira nação nova” 5 . O autor não queria dizer que era nova no sentido de “Novo Mundo” – ou seja, algo criado pela imigração do “Velho Mundo” da Europa. Queria, sim, dizer que os Estados Unidos foram o primeiro país moderno fundado por meio de uma separação de um império colonial. Os apoiantes da independência americana eram chamados “patriotas”. Hoje, a palavra “patriota” ainda é empregue para descrever um nacionalista “cívico” (por oposição a um nacionalista “étnico”).
Isto também torna a Revolução Americana diferente de muitos movimentos nacionalis- tas que se lhe seguiram. Não teve a ver com divergências étnicas e culturais entre ame- ricanos e britânicos; tendo a separação sido explicitamente sustentada por considerações políticas – e não culturais. Todavia, mesmo que o nacionalismo americano tenha sido menos étnico 6 , era, ainda assim, um tipo de nacionalismo. O reconhecimento deste facto foi o que permitiu a Lipset ter esperança de que as lições da fundação americana pudessem ser úteis para os novos países que haviam emergido nos anos 60 e 70 no seguimento dos movimentos pós-colonialistas, que também misturavam ideias de democracia e libertação com o nacionalismo enquanto força de mobilização.
Se o nacionalismo foi considerado uma força de progresso e libertação durante tanto tempo – desde o século XIX na Europa, pas- sando pelo Terceiro Mundo no período após 1945 – como é que uma visão negativa do nacionalismo se veio a tornar predominante? As duas guerras mundiais foram o momento decisivo. O seu carácter mortífero deu à palavra nacionalismo uma conotação negativa. No seu rescaldo, a visão de um mundo pós-nacional tornou-se amplamente vista, não apenas como algo desejável, mas exequível 7 . A ascensão e queda desastrosa do Fascismo e do Nazismo descredibilizou drasticamente o nacionalismo e legitimou a União Europeia.
Como é que a teoria social pode entender estas oscilações bruscas nas atitudes em rela- ção ao nacionalismo – de fonte de libertação a encarnação do mal destinado às cinzas da história? A assunção (por vezes implícita) na maioria das teorias do nacionalismo é que este pertence à fase inicial da modernização e por isso, com o desenvolvimento, está sujeito a crescer para lá da sua utilidade e a tornar-se marginal ou mesmo a desaparecer de todo (na opinião marxista). É como uma febre banal da infância, que é fácil apanhar, mas pela qual se passa e se deixa para trás.

Este entendimento possibilita uma feliz convergência entre concepções normativas e teóricas. Do ponto de vista normativo, o nacionalismo é considerado mau porque é antiliberal, por se opor aos direitos indivi- duais, por ser hostil às minorias, por se opor, de maneira geral, à diversidade, e por aí em diante. Mas, felizmente, o nacionalismo também está historicamente condenado porque a história se encarregará de o tornar redundante. É agora necessário abandonar a assunção desta feliz convergência.
PÓS-NACIONALISMO E A SUA EXTINÇÃO
No seguimento da Segunda Guerra Mun- dial, formou-se um consenso em torno da noção de que o futuro pós-nacional não só era desejável, mas também que a sua chegada estava iminente. A União Euro- peia foi deliberadamente concebida para enfraquecer os Estados-nações e torná-los menos relevantes, conduzindo, por fim, a uma espécie de Europa federal. Além disso, embora seja, de facto, uma organização regional, presumiu-se, amplamente, que a UE era um modelo para o mundo. Era, afinal, a Europa que, nos tempos modernos, oferecia modelos de desenvolvimento para o resto do planeta. O mundo inteiro, ou pelo menos a parte mais desenvolvida do mundo, deveria gradualmente caminhar nessa direcção, ainda que diferentes países e regiões pudessem escolher caminhos ligeiramente diferentes.
Se as teorias a respeito do nacionalismo estavam certas, como foi possível este aparente regresso?
O mundo no período após 1945 era tam- bém o mundo da Guerra Fria. É relevante que a percepção consensual do futuro como sendo pós-nacional abrangesse não apenas o Ocidente liberal, mas também o seu rival geopolítico, o mundo comunista. Os liberais e os comunistas discordavam em muitos as- pectos, mas concordavam que o nacionalismo era pernicioso e estava condenado. Quer o fim almejado fosse o liberalismo universal, o comunismo universal ou uma “terceira via” que, de certa forma, conjugasse aqueles dois, o destino das nações não era uma parte importante do debate. E era nisto que os pós- -nacionalistas baseavam a sua confiança: se ambos os lados da Guerra Fria concordavam em alguma coisa, tinha de ser verdade.
Todavia, não tardou muito até que o nacionalismo começasse a afirmar-se novamente. O seu ressurgimento veio em três vagas. A primeira assumiu a forma de movimentos terceiro-mundistas contra o colonialismo e em defesa da “libertação na- cional”. Estes levaram a um reconhecimento relutante de que o nacionalismo ainda era importante, e suscitaram mais literatura académica, incluindo as importantes obras de Ernest Gellner e outros que dominam o estudo do nacionalismo até aos dias de hoje 8 . Contudo, a assunção da transitorie- dade do nacionalismo sobreviveu, pois não estavam as colónias recentemente libertas no Terceiro Mundo ainda nas fases iniciais da modernização? Se a Europa, no seu voo em direcção a um desenvolvimento num estado avançado, tinha deixado para trás o peso obstrutivo do nacionalismo, o Terceiro Mundo também acabaria por fazer o mesmo.

A segunda vaga do ressurgimento na- cionalista veio com a queda do comunismo. Tanto os estudiosos do comunismo como os próprios comunistas tinham visto o nacionalismo como algo trivial. Poucos académicos ocidentais do mundo comunista mostraram algum interesse na “questão das nacionalidades”. Assim, o enorme papel que o nacionalismo desempenhou no derrube do comunismo e no desmantelamento da União Soviética e da Jugoslávia apanhou de surpresa os académicos do Ocidente e os decisores políticos. Aqueles que lideraram movimentos anti-comunistas podem ter invocado princípios democráticos-liberais de forma a retirar legitimidade aos ditadores comunistas, mas em muitos países o nacio- nalismo era a única força capaz de mobilizar as massas contra o comunismo. Os estados comunistas multinacionais eram palco de apelos nacionalistas particularmente pode- rosos. Como consternadamente observou, frustrado, e com alguma ironia, o liberal polaco Adam Michnik: “O nacionalismo é a última etapa do comunismo” 9 .
Alguns de nós podem ainda acreditar que um futuro pós- nacional seria preferível, mas já não podemos sustentar a ilusão de que o mundo está, de facto, a caminhar nessa direcção
Se as teorias a respeito do nacionalis- mo estavam certas, como foi possível este aparente regresso? Os liberais do Ocidente rejeitavam o comunismo pelo seu carácter repressivo, mas viam-no como uma força de modernização. Ao contrário dos países do Terceiro Mundo, os países comunistas eram considerados modernos ou desenvol- vidos; além disso, estavam a lutar contra o nacionalismo e pareciam caminhar em direcção a uma condição pós-nacional.
Nem mesmo o desaparecimento do comunismo foi capaz de conduzir a qual- quer reapreciação das teorias a respeito do nacionalismo. De qualquer forma, o comunismo tinha-se revelado um falso caminho para a modernidade, pelo que as suas relações paradoxais com o nacio- nalismo podiam ser desvalorizadas como uma idiossincrasia. Só tardiamente os académicos perceberam que as políticas de nacionalidades soviética e jugoslava tinham, de facto, aumentado e não enfraquecido o nacionalismo 10 . Mas talvez isto se tenha ficado a dever às vicissitudes das decisões tomadas por Estaline (e as suas réplicas jugoslavas) e não a algo substancial. Tendo o nacionalismo ressurgido temporariamente para auxiliar na expulsão do comunismo, esperava-se que os países pós-comunistas se tornassem “normais” e se começassem a empenhar na adopção da democracia e, depois, do pós-nacionalismo. Não queriam quase todos aderir à União Europeia?
Tais contingências não são, contudo, capazes de dar uma explicação que pusesse fim à terceira vaga do ressurgimento mundial do nacionalismo, aquela pela qual estamos actualmente a passar. O Brexit, que é, até agora, a sua expressão mais relevante, foi um golpe particularmente duro, uma vez que a Grã-Bretanha não é um país qualquer em vias de desenvolvimento, nem sequer uma democracia recente. Pelo contrário, é possível defender que é o próprio berço da modernidade em geral, e da democracia moderna em particular. A Guerra Civil In- glesa e a Revolução Gloriosa que derrotaram o absolutismo real e limitaram o poder monárquico; a ascensão do Parlamento e da Common Law; a Revolução Industrial – todos estes desenvolvimentos cruciais na ascensão do mundo moderno fazem parte da história da Grã-Bretanha. Toda- via, foram os eleitores do Reino Unido que abandonaram o paradigma “pós-moderno” da União Europeia.
Depois vieram os resultados inesperados e, para muitos, chocantes da eleição pre- sidencial dos Estados Unidos. A vitória de Trump é geralmente vista como mais uma vitória do nacionalismo. Aparentemente, os seus slogans de “America first” (“Primeiro a América”) e “Make America Great Again” (“Tornemos a América grande novamente”) funcionaram bem. E isto aconteceu na de- mocracia mais poderosa do mundo. Além disso, o nacionalismo está em ascensão em quase todos os países ocidentais. A Frente Nacional de Marine Le Pen é um candidato credível para a presidência de França.
A história da modernidade, pelo menos na sua dimensão política, é em grande medida definida pelas revoluções inglesa, americana e francesa. Durante muito tempo, o “progres- so” era um conto cujo significado dependia daqueles países. Por imposição ou exemplo, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a França difundiram as lições do desenvolvimento e mostraram o que era ser moderno. Se estes três países, entre muitos outros, estão agora a expor o vazio de qualquer assunção de que o nacionalismo necessariamente desaparecerá no mundo desenvolvido, é difícil defender essa suposição de todo. Alguns de nós podem ainda acreditar que um futuro pós-nacional seria preferível, mas já não podemos susten- tar a ilusão de que o mundo está, de facto, a caminhar nessa direcção.
ONDE É QUE ERRÁMOS?
Quando é que o nosso entendimento acerca do nacionalismo se desviou do caminho certo? Porque é que alguma vez pensámos que as nações e o nacionalismo iriam ine- vitavelmente decair? O argumento mais popular era de cariz económico: esperava-se que a tendência em direcção à globalização económica tornasse os Estados-nações e o nacionalismo obsoletos e redundantes. Embora o conceito de “globalização” soe a algo recente, o argumento em si mesmo é muito mais antigo. Karl Marx e Friedrich Engels enunciaram-no muito bem já em 1848, no seu Manifesto Comunista:
As disparidades nacionais e o antago- nismo entre povos estão crescentemente a desaparecer, dia após dia, devido ao de- senvolvimento da burguesia, ao comércio livre, ao mercado mundial, à uniformidade no modo de produção e nas condições de vida correspondentes. 11
Um século e meio depois, os liberais em matérias económicas e os defensores do mercado livre da década de 1990 es- tavam em sintonia com Marx e Engels na previsão de que as forças imparáveis da globalização económica significariam “o fim do Estado-nação” 12 .
A globalização é, de facto, real e ponde- rosa e trata as nações como impedimentos; por isso, o que há concretamente de errado neste argumento? Em poucas palavras, o seu erro é o erro do determinismo económico. A economia é importante, mas não pode explicar tudo. Não é sempre “a economia, estúpido”, apesar do que alguns consultores políticos gostam de afirmar. E mesmo se for a economia, o próprio desenvolvimento económico carece de explicação. Há um conjunto crescente de literatura académica que procura determinar por que razão alguns países são economicamente desenvolvidos e outros ainda são pobres; cada vez mais, as instituições surgem como o factor mais importante 13 . Isto inclui, sem dúvida, embora não exclusivamente, as instituições políticas. (Pode, de seguida, perguntar-se por que razão alguns países têm melhores instituições do que outros, mas isso é outro tema, para outra altura). O ponto crucial é que as explicações baseadas num único factor preponderante podem parecer atractivas para um cientista social, mas são enganadoras.
Outro argumento popular que apresen- ta uma defesa de que o nacionalismo está condenado a cair advém da ideia de que a natureza humana é maleável. O Iluminismo difundiu uma visão dos seres humanos como criaturas acima de tudo racionais. Com o desenvolvimento e a educação, devíamos tornar-nos cada vez mais guiados pela razão. O principal obstáculo ao avanço da razão é o “preconceito”, que era, originariamente, uma maneira educada de dizer religião. Presumia- -se que o desenvolvimento e a educação derrotariam, por fim, a religião, ou, pelo menos, torná-la-iam marginal, expulsando-a da esfera pública. Há uma distinção importante entre religião e nacionalismo porque a primeira é obviamente pré-moderna, ao passo que as nações são, como vimos, exclusivamente modernas. Não obstante, neste contexto, as atitudes relativamente à religião e relativamente ao nacionalismo têm semelhanças: Segundo este argumento, tanto ser um nacionalista como ser religioso tem pouco a ver com racionalidade. Porque deveria um indivíduo racional estar preso a um qualquer sentimento primordial com base num nascimento acidental? Porque deverei eu estar comprometido com a “mi- nha” nação em lugar de qualquer outra? Porque deverei arriscar morrer por esta nação, lutando contra outras? Tal não passa o teste rigoroso da racionalidade. Assim, à medida que os indivíduos se tornam cada vez mais iluminados e racionais, deixarão de ser nacionalistas.
Mas nem a religiosidade nem o na- cionalismo desapareceram. A primeira decresceu até certo ponto, especialmente nas partes mais desenvolvidas do mundo, como a Europa, mas continua a ser bastante importante, e em algumas partes do mundo a sua importância está a aumentar e não a diminuir. O nacionalismo, como vimos, apresenta características semelhantes.
Então, onde é que errámos? Não somos criaturas racionais? O Iluminismo não mu- dou mesmo o mundo? Deveremos desistir do seu legado? Não, não é necessário ir tão longe. Estou muito longe de me tornar um proponente do pensamento “pós-modernista” (isto é, pós-Iluminista). Contudo, o Ilumi- nismo, em si mesmo, pode ser entendido de maneiras distintas. A percepção que temos deste é muito definida pelas ideias dos filósofos franceses do século XVIII. A sua maneira não é a única maneira de respeitar o progresso e a racionalidade; é possível fazê-lo sem impor uma oposição demasiado rígida entre a razão e qualquer coisa que se pareça com “preconceito”.
A versão escocesa (e, de forma mais ampla, inglesa) do Iluminismo defende uma abordagem mais subtil que possibilita o desenvolvimento baseado na difusão da educação, na defesa da liberdade individual, e na tolerância das diferenças, mas sem rejeitar a religião ou o respeito pelas tradições culturais 14 . O escocês David Hume foi um grande pensador do Iluminismo e amigo do progresso, mas, es- candalosamente, também afirmou o seguinte a respeito da razão: “A razão é, e deve apenas ser, escrava das paixões, e não pode almejar a nenhum outro ofício senão obedecer-lhes” 15 . Ao contrário do que se pode pensar, tal não supõe uma celebração dos instintos irracionais, ou de qualquer tipo de “preconceito”, mas permite um entendimento mais realista do lugar da racionalidade no seio da estrutura da natureza humana.
A outra suposição geral que reforça a expectativa do futuro declínio das nações é a ideia de que a natureza humana é, em si mesma, em grande medida, uma construção. Vou novamente fazer referência a Marx, que considerava que não existia tal coisa como uma “natureza humana”, mas apenas o “conjunto das relações sociais” 16 . Somos todos moldados por “forças sociais”. Uma certa combinação destas tornou-nos nacionalistas, mas uma outra qualquer combinação “curar-nos-á” disso, como de qualquer tendência para se ser religioso, ou mesmo (segundo acre- ditava Marx) egoísta. De acordo com este entendimento, a humanidade é moldável. Pode ser refeita e tornada melhor. Este ponto de vista à maneira de Marx é a fonte do construtivismo social que se tornou tão influente na ciência social do nosso tempo. Daqui decorre a rejeição absoluta e rígida de qualquer coisa que remotamente se pareça com “primordialismo” ou “essencialismo”
Todavia, esta abordagem, com a sua su- gestão de que a mente humana é uma “tela branca” cujo conteúdo é determinado pelo ambiente social, não é apenas o pesadelo de alguns filósofos de pendor conservador. Também contradiz fortemente descobertas da biologia evolutiva contemporânea e da psicologia. Partindo destas ciências, Steven Pinker defende que temos, quer “demónios interiores”, quer “Anjos da Guarda”, que fazem parte da nossa natureza 17 .
Mas o facto de a nossa natureza não ser uma tela branca não impossibilita o progresso em assuntos humanos. O avanço da civilização mudou drasticamente as nossas vidas e fê-las muito melhores em vários sentidos, incluindo, desde logo, as áreas do bem-estar material e da redução da violência. Temos razões para celebrar os sucessos conseguidos até agora, e aspirar a mais. Mas os nossos demónios inte- riores, bem como os nossos Anjos da Guarda, permanecem, e não podem ser eliminados pela remodelação das instituições políticas ou campanhas de sensibilização. A menos que o tenhamos em conta, os nossos projectos sociais bem-intencionados terão resultados bastante indesejáveis ou inesperados, se não criarem novos monstros (pessoas que viveram sob o comunismo estão particularmente familiarizadas com estes últimos).
Tal deveria levar-nos a reavaliar a explica-olhar crítico. Quando é que o construtivismo deixa de ser um instrumento útil e se torna um dogma rígido? Gellner deixou-nos uma expressão concisa do construtivismo radical no seu pequeno e fascinante ensaio, ao per- guntar: “As nações têm umbigos?” 18 O autor defende que a criação de nações nos tempos modernos pode ser comparada à criação do mundo por Deus: ambos se dão ex nihilo, isto é, são criados a partir do nada. Adão não tinha umbigo. As nações são criadas pelo desenvolvimento económico, a difusão da literacia e outros factores semelhantes; não exigem quaisquer condições prévias de tempos pré-modernos. Algumas nações modernas, como os povos francês, judaico ou russo, podem ter ligações a um passado pré-moderno, mas isso é irrelevante.
Outros académicos como John Arms- trong e Anthony Smith são aquilo a que chamaria construtivistas moderados (na literatura, refere-se habitualmente a eles como “etno-simbolistas”). Vêem uma espécie de continuidade entre as colectividades étnicas pré-modernas e as afeições a estas, por um lado, e as nações modernas e o nacionalismo por outro 19 . Estes autores não deixam de ser modernistas e construtivistas. Consideram que as nações são fenómenos modernos, pois nunca antes houve colectividades tão grandes e com suficiente estabilidade que (crucialmente) fizessem remontar a legitimidade da ordem política ao serviço dessa ordem a uma nação. Esta é, de facto, uma ideia moderna.
Todavia, as pessoas sempre viveram em comunidades que consideravam assentes numa descendência comum, bem como numa língua, numa religião e num conjunto de costumes comuns. O sentimento de pertença a tais comunidades era importante para elas. Em todos os tempos de que temos memória, sempre existiu uma noção de fronteira, fun- dada nas características acima mencionadas. Aqui estão “os nossos” e ali estão “os outros” 20 . Isto não significa que “os outros” devem ser sempre odiados ou temidos, embora o sejam com alguma frequência.
Devido ao facto de o sentimento de pertença e de fronteiras ter estado presente há tanto tempo quanto os estudos históricos são capazes de recuar, podemos assumir que este tem alguma coisa a ver com a natureza humana. Mas também temos de reconhecer (pois continuamos a ser “construtivistas”, até certo ponto) que, no decorrer da história, tudo mudou drasticamente. Tal inclui as dimensões e a composição dos grupos, as fronteiras entre eles, traços específicas como língua e religião, e a própria importância que as pessoas dão a tudo o que passou. Estas mudanças dependeram, tendencialmente, de contingências históricas. Mas as “forças da modernidade” não podiam ter criado nações modernas a não ser que tivesse existido algo que lhes servisse de base, qualquer solo na história, por um lado, e na natureza humana, por outro. Aqui vemos os contornos de um entendimento modernista, mas mais subtil, do nacionalismo.
A SOMBRA DA DEMOCRACIA
Como observei no início, o ressurgimento do nacionalismo está relacionado com a questão do declínio democrático. No mínimo, perdemos o nosso sentido de optimismo em relação ao avanço global da democracia, e muitas pessoas começaram a temer que a democracia esteja agora em perigo, mesmo nos seus redutos históricos: Europa Ocidental e Estados Unidos 21 . Quais são os verdadeiros indicadores deste declínio, sobretudo entre as democracias consolidadas? Quando o Journal of Democracy convidou vários autores para analisarem esta tendência na Europa Continental, os artigos foram precedidos de uma introdução de duas páginas em que os editores enumeravam cinco desafios básicos à democracia liberal, nomeadamente “o populismo, o nacionalismo, o nativismo, o iliberalismo e a xenofobia” 22 Dois desses cinco termos, nativismo e xe- nofobia, descrevem diferentes aspectos do nacionalismo (especialmente quando este termo é utilizado num sentido pejorativo), e “iliberalismo” é um termo genérico que sintetiza os outros quatro termos da lista. A actual crise da democracia é a crise de um paciente afectado por agentes patogénicos (o populismo e o nacionalismo) contra os quais não há antibióticos adequados acessíveis.
Não tenho qualquer antibiótico para propor, mas quero colocar uma questão. Devemos tratar estas tendências verdadeira- mente perturbadoras como infecções vindas do exterior, ou antes como expressões de problemas que são inerentes à democracia enquanto tal? Para usar a terminologia das ciências sociais, estamos a lidar com fenó- menos que são exógenos ou endógenos à democracia? O primeiro instinto de muitos analistas é preferir a primeira resposta. Ge- ralmente, começam por citar a globalização económica; de alguma forma, a globalização económica deixou de ser propícia para os países capitalistas avançados, ou pelo me- nos para segmentos significativos das suas populações. O investimento e o trabalho vão para economias de baixos salários e de grande crescimento, como a da China e a da Índia, enquanto as pessoas nos Estados Unidos e na Europa Ocidental são deixadas na luta contra o subemprego, o desemprego, ou (na melhor das hipóteses) salários reais estagnados. Estas pessoas consideram que perderam com a globalização e voltam-se contra os estrangeiros que lhes roubam os trabalhos e os seus próprios poderes estabelecidos cosmopolitas, que os estão a abandonar. Esta é a explicação mais popular do Brexit, das recentes eleições americanas e da ascensão de partidos nacionalistas e populistas na Europa.
Os esforços para “libertar” a democracia do povo não acabarão bem, conduzindo a resultados de que nenhum de nós vai gostar
O outro factor exógeno frequentemente invocado a par da globalização é a trágica desordem do Médio Oriente que “originou” o terror do Islamismo radical e um gran- de fluxo de refugiados muçulmanos nos países da Europa e da América do Norte. Tal conduziu a um retrocesso xenófobo e nativista contra os imigrantes, do qual os partidos nacionalistas ou populistas conseguiram tirar proveito.
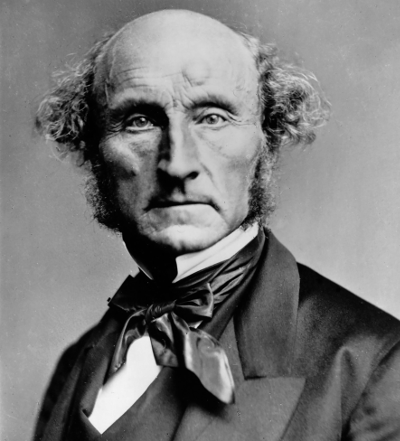 Ambas as explicações fazem muito sentido, mas haverá sempre dificuldades económicas e complicações do ponto de vista da segurança: não seria expectável que a democracia tivesse capacidade para resistir diante de tais desafios? Embora os factores que inflamam o populismo e nacionalismo possam de facto ser exóge- nos, eles não podem criá-los, mas apenas fortalecê-los quando já estão presentes. É particularmente problemático retratar o populismo como algo exógeno à democracia. Afinal, tanto populus (em Latim) como demos (em Grego) significam “o povo”. Afirmar que a democracia é algo bom e que o populismo é algo mau é contraintuitivo do ponto de vista linguístico. Não são as rebeliões do “povo comum” contra as elites – algo muito frequentemente associado aos movimentos populistas – parte da identidade (ethos) da democracia?
Ambas as explicações fazem muito sentido, mas haverá sempre dificuldades económicas e complicações do ponto de vista da segurança: não seria expectável que a democracia tivesse capacidade para resistir diante de tais desafios? Embora os factores que inflamam o populismo e nacionalismo possam de facto ser exóge- nos, eles não podem criá-los, mas apenas fortalecê-los quando já estão presentes. É particularmente problemático retratar o populismo como algo exógeno à democracia. Afinal, tanto populus (em Latim) como demos (em Grego) significam “o povo”. Afirmar que a democracia é algo bom e que o populismo é algo mau é contraintuitivo do ponto de vista linguístico. Não são as rebeliões do “povo comum” contra as elites – algo muito frequentemente associado aos movimentos populistas – parte da identidade (ethos) da democracia?
O populismo parece ser um conceito utilizado para designar tudo o que consi- deramos mau em democracia. Isso faz-me lembrar o conceito da “sombra” utilizado, pela primeira vez, pelo psicanalista suíço Carl Gustav Jung. No seu entendimento da personalidade humana, a nossa “sombra” é o aspecto obscuro e menos atractivo da nossa personalidade, ou talvez até uma personalidade alternativa que o nosso ego consciente se recusa a reconhecer como fazendo parte de si. Mas em vão: não podemos evitar fazer sombra. É, por isso, preferível reconhecermos os nossos demónios interiores e aprendermos a viver com eles, pois, se assim não for, levar-nos-ão a fazer coisas ainda piores 23 . Da mesma forma, a democracia não pode evitar ser populista, até certo ponto. Todos os líderes democráticos têm de agradar ao demos e, ao fazê-lo, po- dem ter de negociar com a sua consciência. O populismo não veio de fora para atingir a democracia: o populismo sempre esteve presente. Mas em algumas circunstâncias pode tornar-se mais destrutivo.
No caso do nacionalismo, pode ser menos óbvio, mas também este faz parte da democracia e não lhe é exterior. De forma a ter uma democracia, é necessário que haja uma comunidade de pessoas que queiram ter um futuro político comum e instituições políticas comum. Isso exige alguma espécie de solidariedade hori- zontal fundada na confiança, ou aquilo a que chamamos “um substrato comum”. E é algo que nos obriga a aceitar mesmo um governo que odiamos: temos de aceitá-lo porque foi o “nosso povo” que o elegeu; temos de respeitar a vontade deste povo porque lhe pertencemos. Se não temos este sentido de pertença partilhada, então não é o nosso governo. Se as nações modernas são “construídas”, também são criadas por esta exigência de uma comunidade política baseada num sentido de pertença comum, que pode conceder legitimidade ao governo que serve (ou afirma servir) “o povo” ou “a nação”.
Nesse sentido, embora desejando evitar as expressões excessivas do populismo e do nacionalismo – e não se pode negar que com- portam muitos perigos –, também devemos ter em mente que remover da democracia qualquer coisa que se pareça com eles só pode ser feito às custas da própria democracia. Não há nada verdadeiramente novo nos problemas que enfrentamos actualmente. Aquilo a que chamamos os perigos do populismo, liberais do século XIX como Alexis de Tocqueville e John Stuart Mill chamavam a “tirania da maioria”. Eles perceberam claramente que esta ameaça é intrínseca à democracia. As actuais preocupações com o Brexit ou com o que pode suceder no rescaldo das últimas eleições americanas são também medos da tirania da maioria.
Os esforços para lidar com esta ameaça são tão antigos como projecto da democra- cia moderna. Os Fundadores dos Estados Unidos, perfeitamente conscientes destas ameaças, introduziram um sistema elaborado de freios e contrapesos (checks and balances) para lhes fazer frente. Estes mecanismos são muito importantes e têm uma eficácia amplamente comprovada, mas os próprios Fundadores reconheceram que podem não ser sempre suficientes.
Os liberais do século XIX também ti- nham a esperança de conter o lado sombrio da democracia limitando o direito a votar. Negaram-no àqueles que eles consideravam ter pouca instrução ou falta de um sentido adequado de responsabilidade social. Hoje, o sufrágio universal é sagrado e esta opção está fora de questão. Todavia, várias reacções ao Brexit e à eleição de 2016 dos Estados Unidos revelaram um desejo de que alguns daqueles “deploráveis” (no século XIX, os seus oponentes tê-los-iam chamado “a multidão” ou a “massa”) que votaram a favor da saída do Reino Unido da União Europeia (Leave) ou a favor de Trump não tivessem sequer tido o direito de ir às urnas.
No rescaldo do Brexit, Mark Leonard, director do Conselho Europeu para as Re- lações Externas, estabeleceu um contraste entre as visões “diplomáticas” e “demóticas” da Europa. Escreveu que a primeira era personificada pela União Europeia, sendo a última representada pelo Partido da Independência do Reino Unido (UKIP) e pelo Brexit 24 . Substituir o adjectivo “demótico” por “democrático” não ajuda muito aqui. A linha de argumentação de Leonard reforça o ponto de vista, defen- dido pelos que rejeitam a União Europeia, de que esta é uma conspiração das elites globalistas contra o povo.
Como devemos, então, começar a resolver os perturbadores problemas que a democracia enfrenta actualmente? Não tenho respostas concretas para apresentar. Em vez disso, posso apenas apelar a uma prudência aristotélica antiquada. Se queremos preservar, desenvolver e fazer progredir a democracia liberal, temos de aceitar a democracia como ela é. Temos de deixar de tentar libertar a democracia da vontade do povo e da propensão que essas mesmas pessoas têm para cuidarem mais das suas próprias pátrias, das suas próprias tradições e das suas próprias crenças do que das pátrias, tradições e crenças alheias. Os esforços para “libertar” a democracia do povo não acabarão bem. Vão apenas gerar mais reacções “populistas” em maiorias ainda mais enfurecidas, conduzindo a resultados de que nenhum de nós vai gostar.
Palestra Seymour Martin Lipset profe- rida em Washington em Novembro de 2016 e em Toronto em Janeiro de 2017.
1 Para uma afirmação explícita de que o nacionalismo desaparecerá, ver Ernest Gellner, Nations and Nationalism (Oxford: Blackwell, 1983), 119–22.
2 Entendo aqui a palavra “liberal”, não no sentido estrito americano de “liberal por oposição a conservador”, mas como referindo- se, genericamente, aos que se comprometeram com o Iluminismo, que, no contexto dos Estados Unidos, incluiria tanto liberais como conservadores, ou pelo menos a maioria deles.
3 Ghia Nodia, “Nationalism and Democracy,” Journal of Democracy 3 (Outubro 1992): 3–22.
4 O termo “modernização” não está tanto na moda como estava quando Lipset escreveu as suas obras mais significativas, mas o seu substituto, “desenvolvimento”, é quase um sinónimo, bem como “progresso”.
5 Seymour Martin Lipset, The First New Nation: The United States in Historical and Comparative Perspective (New York: W.W. Norton, 1979).
6 Na verdade, teve sempre uma componente étnica ou racial, que se manifestava em atitudes para com os negros, os povos indígenas e, mais tarde, também com outros grupos.
7 Embora a ideia de uns “Estados Unidos da Europa” tenha sido pela primeira vez discutida por volta do início do século XX, a vitória dos Aliados naquela que era então chamada a Grande Guerra trouxe consigo o triunfo do nacionalismo liberal do presidente norte-americano Woodrow Wilson, centrado na “autodeterminação dos povos” para os países mais pequenos da Europa e na criação da Sociedade das Nações.
8 Gellner, Nations and Nationalism; Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of National- ism (London: Verso, 1983); Eric J. Hobsbawm, Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality (New York: Cambridge University Press, 1991); Anthony D. Smith, The Ethnic Origins of Nations (Oxford: Blackwell, 1986); John A. Armstrong, Nations Before Nationalism (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1982).
9 “Polish Dissident Adam Michnik: ‘We Are Bastards of Communism,’” Spiegel Online, 31 de Julho de 2013, www.spiegel.de/inter- national/europe/polish-dissident-adam-michnik-on-eastern-europe-after-communism-a-913912.html.
10 Yuri Slezkine, “The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism,” Slavic Review 53 (Verão 1994): 414–52.
11 Karl Marx e Friedrich Engels, Manifesto of the Communist Party (New York: International Publishers, 1948), 28.
12 Kanichi Ohmae, The End of the Nation-State: The Rise of Regional Economies (New York: Free Press, 1996).
13 Daron Acemoglu and James A. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (New York: Crown, 2012).
14 Ver, por exemplo, Gertrude Himmelfarb, The Roads to Modernity: The British, French and American Enlightenments (London: Vintage, 2004).
15 David Hume, A Treatise of Human Nature, Vol. II (London: Thomas and Joseph Allman, 1817), 106.
16 Karl Marx, “Theses on Feuerbach,” in Marx, Selected Writings, ed. Lawrence H. Simon (Indianapolis: Hackett, 1994), 100.
17 Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined (New York: Penguin, 2012). Ernest Gellner, “Ernest Gellner’s Reply: ‘Do Nations Have Navels?’” Nations and Nationalism 2 (Novembro 1996): 367–68. Armstrong, Nations Before Nationalism; Smith, Ethnic Origins. Armstrong, Nations Before Nationalism, 4–5. Roberto Stefan Foa and Yascha Mounk, “The Danger of Deconsolidation: The Democratic Disconnect,” Journal of Democracy 27 (Julho 2016): 5–17; Takis S. Pappas, “The Specter Haunting Europe: Distinguishing Liberal Democracy’s Challengers,” Journal of Democracy 27 (Outubro 2016): 22–36. “The Specter Haunting Europe: Introduction,” Journal of Democracy 27 (Outubro 2016): 3. Ver Connie Zweig e Jeremiah Abrams, eds., Meeting the Shadow: The Hidden Power of the Dark Side of Human Nature (New York: Jeremy P. Tarcher/Putnam, 1991).


Subscribe
Report